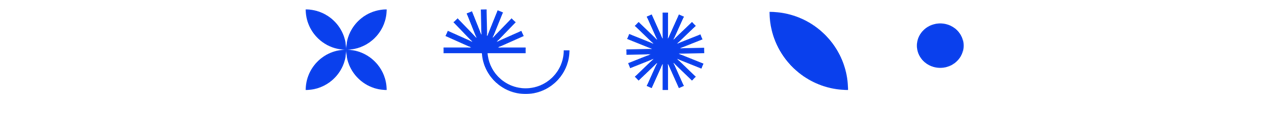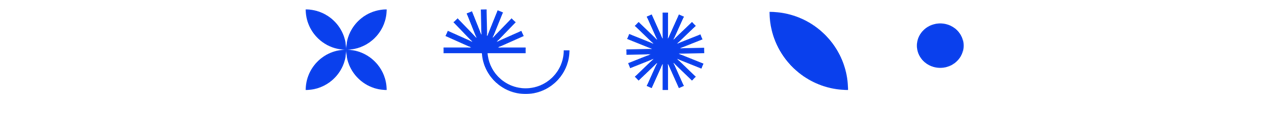Programa - Comunicação Oral Curta - COC10.1 - Gestão Democrática e Controle Social no SUS
01 DE DEZEMBRO | SEGUNDA-FEIRA
08:30 - 10:00
A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE POR MEIO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS
Comunicação Oral Curta
1 UFSCar
2 FMRP
Apresentação/Introdução
O controle social é uma força instituinte pela garantia do acesso a atenção em saúde. As Conferências de Saúde são um dos instrumentos de participação da comunidade, trabalhadores e gestores na gestão do SUS e quando bem utilizadas são instâncias de proposição de políticas que garantam a sua sustentabilidade. No entanto, por vezes estes espaços são esvaziados do legítimo sentido de participação.
Objetivos
Analisar a importância da Conferência Municipal de Saúde como um instrumento de construção do SUS local.
Metodologia
Trata-se de pesquisa qualitativa realizada em três municípios do interior do Estado de São Paulo, no ano de 2024. A produção dos dados foi realizada em duas etapas: 1) análise documental que consistiu na análise dos relatórios final da última Conferência Municipal de Saúde realizada e; 2) Entrevista de Profundidade com a participação dos conselheiros de saúde dos respectivos municípios, dos segmentos, usuário, trabalhador e gestor/prestador. Foram entrevistados 7 conselheiros, sendo três usuários, três trabalhadores e um prestador. As entrevistas foram realizadas na modalidade remota síncrona, via Google Meet e gravadas em mídia digital e posteriormente transcritas na íntegra para análise.
Resultados
A análise documental mostrou que somente um, dos três municípios estudados, dispunham do relatório final da conferência, os outros não conseguiram identificar ou localizar os arquivos, devido perda de equipamento ou troca de servidores. Percebeu-se que as diretrizes aprovadas na conferência não se tronaram objeto de acompanhamento dos atores dos conselhos. As entrevistas evidenciaram a dificuldade de incorporação do relatório final no plano municipal de saúde e como instrumento que compõe as pautas das reuniões dos conselhos. Conferencias e conselhos seguem como instâncias desarticuladas. A ausência dos conselhos locais enfraquece o controle social e o movimento das conferências.
Conclusões/Considerações
A pesquisa mostrou enfraquecimento dos espaços das conferências em saúde. O controle social está repleto, por vezes, de atores mais produtores de não movimento, assim questiona-se a potências dos espaços de educação permanente, se não estiverem imbuídos de sentido emancipatórios e de fortalecimento do SUS. A recente experiências com as conferências livres parecem se constituir numa possibilidade real de ativação da participação social no SUS.
ARTESANÁRIO POPULAR: CONXEÇÃO ENTRE A ARTE E A SAÚDE NOS TERRITÓRIO PARA VIGILÂNCIA POULAR EM SAÚDE
Comunicação Oral Curta
1 PPGSACOL/FACISA/UFRN
2 MDHC
3 FUNCERN
4 EMCM
5 UFPE/PPGSACOL/FACISA/UFRN
6 FACISA/UFRN
Período de Realização
A vivência do Artesário Popular ocorreu no mês de agosto de 2024, com 3 encontros virtuais.
Objeto da experiência
Vigilância Popular em Saúde a partir da integração entre saberes populares, expressões artísticas e práticas comunitárias de cuidado.
Objetivos
Buscou-se qualificar as ações comunitárias de saúde ao fortalecer a relação dialógica com o território e seus movimentos sociais. Através da produção de materiais artísticos foram expressas as experiências vividas, promovendo a valorização do saber popular e a emancipação comunitária.
Descrição da experiência
A experiência ocorreu em grupos de quatro pessoas nos municípios de Currais Novos, Caicó e Sítio Novo (RN). Utilizou-se questionário estruturado para entrevistar ao menos duas pessoas da comunidade, com registros em áudio, vídeo ou anotações. Após a coleta, os grupos criaram materiais artísticos, como poemas, cordéis e vídeos, sintetizando as práticas de saúde. A devolutiva foi feita com apresentações, promovendo reflexão sobre a Vigilância Popular.
Resultados
Os encontros formativos resultaram em materiais artísticos que evidenciam práticas de cuidado e resistência. O vídeo de Sítio Novo retrata vivências locais; o podcast de Caicó compartilha saberes coletivos; e o cordel de Currais Novos celebra lutas comunitárias. Esses produtos valorizam o saber popular e fortalecem a Vigilância Popular em Saúde como ferramenta de transformação social.
Aprendizado e análise crítica
A metodologia do artesanário popular integrou arte e saberes comunitários como ferramentas pedagógicas. Através de práticas artesanais, os participantes expressaram suas vivências e reflexões sobre saúde coletiva. Essa abordagem estimulou a análise crítica das condições de saúde e a valorização das práticas locais, promovendo um aprendizado que une tradição, criatividade e ação transformadora nos territórios.
Conclusões e/ou Recomendações
Esta experiência demonstrou a importância de metodologias participativas na construção de uma Vigilância Popular em Saúde efetiva e transformadora. Ao integrar saberes populares e práticas culturais, fortalece-se o protagonismo comunitário e amplia-se a compreensão sobre os determinantes sociais da saúde. É fundamental que tais iniciativas sejam reconhecidas e apoiadas pelos sistemas de saúde, promovendo uma saúde mais justa e equitativa para todos.
CONFORMIDADE NORMATIVA NOS CONSELHOS DE SAÚDE DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL: UMA ANÁLISE À LUZ DA LEI Nº 8.142/1990 E DA RESOLUÇÃO CNS Nº 453/2012
Comunicação Oral Curta
1 Fiocruz Brasília
2 UnB
Apresentação/Introdução
O cumprimento de normas pelos órgãos públicos é um aspecto central do regime jurídico-administrativo brasileiro. Os órgãos da Administração Pública devem ser instituídos e pautar suas atuações em conformidade com as normas positivadas, em atenção ao princípio da legalidade. Nesse contexto, os Conselhos de Saúde, como órgãos colegiados, não estão isentos desse dever.
Objetivos
O objetivo foi analisar o do nível de cumprimento, pelos Conselhos de Saúde dos estados e do Distrito Federal, das exigências sobre autonomia, funcionamento e organização, conforme a Lei nº 8.142/1990 e a Resolução CNS nº 453/2012.
Metodologia
Tratou-se de um estudo que adotou uma abordagem exploratório, qualitativa e de base documental, utilizando dois bancos de dados secundários: o Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde e os sites oficiais de cada um dos Conselhos de Saúde. O acesso ao Siacs foi realizado por meio da página eletrônica http://aplicacao.saude.gov.br/siacs/login.jsf, clicando-se na aba ‘Conselhos de Saúde cadastrados’ e selecionando-se individualmente os 27 colegiados. O levantamento dos dados ocorreu entre os meses de outubro e dezembro de 2024. A análise foi conduzida com base na metodologia spidergram, desenvolvida por Rifkin et al., que permite avaliar a participação social em programas de saúde.
Resultados
A análise revelou que, dos 27 conselhos, 18% se destacaram por alcançar a pontuação máxima em cada um dos indicadores, enquanto o Conselho Estadual de Saúde de São Paulo teve a pior avaliação. Dentre os três indicadores analisados, o de autonomia apresentou maior heterogeneidade nos resultados, enquanto o de organização teve um desempenho mais homogêneo e com melhores resultados. Os achados indicam que, embora alguns conselhos tenham atingido níveis satisfatórios de conformidade normativa, ainda há desafios significativos que comprometem sua efetividade.
Conclusões/Considerações
Para fortalecer os colegiados, é fundamental avançar na garantia da autonomia financeira, assegurando a destinação de orçamento próprio a ser gerido pelos conselhos, e aprimorar mecanismos de monitoramento e avaliação normativa.
CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: O PAPEL DOS GRUPOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMO CATALISADORES DE PROCESSOS DE MOBILIZAÇÃO EM TERRITÓRIOS DO CAMPO NO DISTRITO FEDERAL.
Comunicação Oral Curta
1 FIOCRUZ
Período de Realização
A experiência apresentada teve início em Junho de 2024 e ainda está em curso.
Objeto da experiência
A experiência em questão tem como objeto analisar a potencialização dos movimentos de controle e participação social por meio de um grupo na APS.
Objetivos
Fortalecer a participação social na Atenção Primária à Saúde em territórios do Campo, estimulando a autonomia e o protagonismo comunitário. Incentivar lideranças locais, a articulação com o Conselho Local de Saúde e a discussão de direitos e deveres no SUS.
Descrição da experiência
A experiência se dá em um grupo semanal e aberto à comunidade, implementado em determinado território do campo na Região Norte de Saúde do Distrito Federal, pelos residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família com Ênfase na Saúde da População do Campo. A participação e controle sociais sempre foram temáticas transversais às propostas dos encontros, facilitando a emergência de debates relacionados à necessidade do Centro Comunitário e do Conselho Local de Saúde.
Resultados
A experiência resultou na mobilização para reconstrução do Centro Comunitário, reconhecido como espaço essencial para ações coletivas. Houve também articulação com outras iniciativas para envolver a comunidade na criação do Conselho de Saúde. Destaca-se a identificação de moradores com potencial de liderança, fortalecendo o protagonismo local. Observou-se melhora na comunicação entre equipe e comunidade. Para os residentes, a vivência trouxe enriquecimento formativo e social.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou que a escuta ativa e a valorização dos saberes locais são essenciais para o engajamento comunitário. Os territórios do campo exigem abordagens sensíveis às suas realidades sociais, culturais e geográficas. As dificuldades iniciais de adesão e articulação intersetorial mostraram a necessidade de um trabalho contínuo de sensibilização e de fortalecimento da comunicação entre equipe e comunidade. Reforçou-se a potência dos grupos na participação social.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência reafirma a importância dos espaços grupais na APS como catalisadores da participação e do controle social, especialmente no Campo. Recomenda-se a continuidade das ações com apoio institucional para estrutura física e capacitação das equipes. Sugere-se ainda maior integração entre APS, movimentos sociais e instâncias de controle, visando a sustentabilidade e ampliação das iniciativas para outros territórios com características semelhantes.
EFETIVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA FORMULAÇÃO DE DIRETRIZES DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO PELO REDESENHO DAS ATIVIDADES DAS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE
Comunicação Oral Curta
1 Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
Período de Realização
De novembro de 2024 a abril de 2025
Objeto da experiência
Formulação de diretrizes do Plano Municipal de Saúde 2026-2029 da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS-SP) a partir do controle social
Objetivos
Garantir a incorporação do diagnóstico do controle social no Plano Municipal de Saúde (PMS);
Parear produtos da Conferência Municipal de Saúde (CMS) e do Planejamento Estratégico Situacional (PES) da SMS-SP;
Formular diretrizes coerentes aos insumos utilizados e às prioridades elencadas.
Descrição da experiência
Foi realizada, junto ao Conselho Municipal de Saúde, a co-criação de uma metodologia de condução das oficinas regionais de pré-conferência e da Conferência Municipal de Saúde para garantir que seu produto fosse viável e informasse as prioridades para o PMS. Durante seis encontros entre conselheiros e servidores, foram definidos e testados a organização das atividades e o formato de registro para o levantamento de problemas de saúde locais e apontamento de ações sugeridas pelos munícipes.
Resultados
A Conferência aprovou 16 diretrizes em quatro eixos que respeitaram o formato e orientação estabelecidos pelo seu regimento. Os textos finais foram cotejados com os objetivos estratégicos provenientes do PES. A integração dos materiais derivou sete diretrizes para o PMS, que preservam grande parte da estrutura textual validada pelos conferencistas. As listas de ações elaboradas nos territórios são disponibilizadas como insumos para formulação de metas do PMS pelas áreas técnicas.
Aprendizado e análise crítica
Apesar da norma de elaboração do PMS destaca a indução pelo controle social, há grande dificuldade de apresentar suas proposições de maneira estruturada. Em São Paulo, que reúne em sua Conferência centenas de pessoas com diferentes níveis de experiência em participação e de aproximação com o planejamento, historicamente se produz um documento com muitas solicitações distintas, mas sem coesão para possibilitar a extração de diretrizes. Observou-se que há potencial de aprimoramento neste cenário.
Conclusões e/ou Recomendações
A qualificação da construção do diagnóstico e seu registro fortalece as formas e os espaços de participação e propicia o empoderamento dos participantes das conferências municipais. O reconhecimento de sua contribuição na construção das diretrizes que conduzirão a saúde municipal nos próximos quatro anos aproxima os diferentes atores do controle social, e possibilita o planejamento mais democrático e alinhado às necessidades reais da população.
ESTADO E SOCIEDADE: UM DIÁLOGO COM A REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA
Comunicação Oral Curta
1 FSP/USP
Apresentação/Introdução
Debater a formação social do Estado-nação brasileiro é fundamental para a análise dos desafios os quais a Saúde Coletiva enfrenta atualmente - especificamente no que se refere quanto ao binômio Saúde e Democracia-, posto que o Sistema Único de Saúde é síntese das forças históricas daquilo que se compreende como a relação Estado e Sociedade brasileiros.
Objetivos
Discutir os marcos teóricos da Reforma Sanitária Brasileira no tocante à discussão da formação social brasileira com base nas lentes da ciência política, especificamente sobre a complexidade do significado de democracia na modernidade.
Metodologia
A abordagem metodológica deste trabalho assume um formato teórico-empírico. A leitura, a análise e a interpretação dos textos têm função metodológica decisiva. Pretende-se, assim, compreendê-los e interpretá-los em diálogo com os autores, explorando a fecundidade das ideias para a formulação de juízo crítico. Os textos lidos para este trabalho são de autoria de Amélia Cohn, Sonia Maria Fleury Teixeira, Nísia Trindade Lima, José Murilo de Carvalho e Norberto Bobbio. A seleção dos textos possibilitou o contato com a teoria acerca da relação Estado e Sociedade brasileiros em perspectiva histórica e com as questões em torno da democracia moderna.
Resultados
A relação Estado e sociedade no contexto brasileiro na contemporaneidade decorre das formas de interação entre as massas populares e as oligarquias regionais da Primeira República, bem como remonta à estruturação do aparelho estatal brasileiro após a Revolução de 1930. A cidadania brasileira reflete essa interação e se conforma pelo consumo e pela regulação de um Poder Executivo centralizador. É, portanto, fruto de uma determinada síntese histórico-social que se adequou ao contexto brasileiro, na qual parte de seu desafio reside na dificuldade de produção de coesão social em uma contemporaneidade na qual a articulação política se enfraquece.
Conclusões/Considerações
A fim de se compreender os desafios que o binômio Saúde e Democracia encerra na contemporaneidade, deve-se resgatar a discussão sobre a formação social do Estado brasileiro, em especial a relação pelo consumo e de forma regulada com que a cidadania se conformou com um Poder Executivo centralizador - sendo discutida à luz da história e das adequações dos idealismos de democracia e cidadania à realidade, no contexto da modernidade em crise.
INTEGRAÇÃO ENTRE OUVIDORIA GERAL DO SUS E SEGURANÇA DO PACIENTE - SES/SP : UM INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA FORTALECIMENTO DO SUS
Comunicação Oral Curta
1 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo - SES/SP
Apresentação/Introdução
A participação social é um dos pilares do SUS e se expressa por diferentes canais institucionais, entre eles a Ouvidoria, que atua como espaço de escuta qualificada e instrumento de gestão participativa. A partir da análise de manifestações com relatos de eventos que podem não estar notificados em canais formais, a Ouvidoria propõe estruturar um modelo de integração com a Segurança do Paciente.
Objetivos
Apresentar um modelo de integração entre a Ouvidoria e a Segurança do Paciente, utilizando as manifestações dos usuários como instrumento estratégico para a gestão de possíveis riscos assistenciais no SUS.
Metodologia
A Ouvidoria Geral do SUS – SES/SP realizou, entre janeiro e dezembro de 2024, uma análise qualitativa exploratória das manifestações de usuários, com foco em relatos que indicavam potenciais eventos adversos. A proposta é estabelecer um fluxo integrado entre Ouvidoria e Segurança do Paciente, adotando estratégias qualitativas e operacionais para desenvolver um trabalho conjunto, utilizando as manifestações como subsídios para a identificação e gestão de riscos assistenciais.
Resultados
A análise das manifestações na Ouvidoria Geral do SUS – SES/SP revelou relatos de eventos adversos possivelmente não notificados, evidenciando fragilidades no monitoramento de riscos. A escuta qualificada mostrou-se estratégica para identificar situações não captadas pelas equipes técnicas. Com base nisso, foram delineados elementos para um modelo de integração com triagem de riscos, reuniões intersetoriais e capacitações interprofissionais. Apesar de ainda em fase de planejamento, a proposta demonstra potencial para fortalecer a segurança do paciente no SUS.
Conclusões/Considerações
A integração entre Ouvidoria e Segurança do Paciente é estratégica para qualificar a gestão de riscos no SUS. Recomendamos institucionalizar o fluxo, definir protocolos, qualificar equipes e adotar indicadores. A escuta qualificada, como ferramenta de planejamento estratégico, fortalece a cultura da segurança, a gestão participativa e a tomada de decisões baseadas em evidências.
A PARTICIPAÇÃO SOCIAL COMO MOTOR DA EFETIVAÇÃO DOS CUIDADOS PALIATIVOS NO SUS: EXPERIÊNCIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (2014–2025)
Comunicação Oral Curta
1 Ensp/Fiocruz
2 HUGG
3 EEAN/UFRJ
4 FECCM/RJ
Período de Realização
O relato de experiência ocorreu no período de 2014 a 2025, no Estado do Rio de Janeiro.
Objeto da experiência
Atuação da sociedade civil na criação e implementação da Lei Estadual de Cuidados Paliativos no Rio de Janeiro.
Objetivos
Discutir a importância da participação social na consolidação dos Cuidados Paliativos (CP) no SUS no RJ.
Descrever o percurso legislativo e as mobilizações que resultaram na criação da Lei Estadual nº 8.425/2019 e na elaboração do Plano Estadual em 2025.
Descrição da experiência
Em 2014, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Cuidados Paliativos (GEPCP/DIHS/Ensp/Fiocruz) iniciou ações para implementar os CP no RJ, propondo o PL nº 3.277/2014 na Alerj. Aprovado em 2016, foi vetado pelo governador. Em 2017, um novo PL (2.421/2017) foi apresentado, com mobilização social intensa. Em 2019, após novo veto, a articulação garantiu a aprovação da Lei nº 8.425/2019. Em 2024, a sociedade civil impulsionou a criação da Câmara Técnica, resultando no Plano Estadual de CP em 2025.
Resultados
A mobilização da sociedade civil , por meio da Frente Estadual de Combate ao Câncer de Mama/RJ (FECCM/RJ), foi essencial para a aprovação da Lei nº 8.425/2019 e para a criação de espaços de discussão e de articulação política, garantindo a construção do Plano Estadual de Cuidados Paliativos em 2025.
Aprendizado e análise crítica
A experiência demonstra que a efetivação de direitos em saúde requer mobilização social contínua e articulação entre sociedade civil, pesquisadores e gestores públicos. O caso reforça os princípios do controle social previstos na Lei nº 8.142/1990 e evidencia como a participação ativa transforma reivindicações em políticas públicas concretas.
Conclusões e/ou Recomendações
A trajetória da Lei nº 8.425/2019 e do Plano Estadual de Cuidados Paliativos comprova que os avanços em saúde pública demandam engajamento social e político. A recomendação central é a valorização permanente da participação popular como estratégia legítima para construção de políticas públicas. Cuidados paliativos devem ser reconhecidos como direito humano e incorporados integralmente ao SUS.
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E CONTROLE SOCIAL NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE
Comunicação Oral Curta
1 Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
2 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Apresentação/Introdução
A participação da comunidade e o exercício da cidadania são fundamentais na gestão municipal da saúde, por envolverem a população na definição de prioridades, apoio às ações e defesa da saúde pública, como preconiza o SUS. Este estudo analisa como os instrumentos de gestão em saúde incorporam a participação popular e o controle social nas políticas públicas.
Objetivos
Identificar a inclusão da participação da comunidade e controle social nos instrumentos de gestão da saúde de um município do interior de São Paulo
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com análise documental de dados entre 2011 e 2023. Foram utilizados documentos públicos do site da prefeitura: relatórios das conferências de saúde (2011, 2015, 2019), planos municipais (2014–2017, 2018–2021, 2022–2025), programações e relatórios anuais de gestão (2014–2023). A análise seguiu as etapas da análise de conteúdo: pré-análise, exploração e interpretação, organizando as unidades de registro em cinco categorias: Ampliação da Participação e Representatividade, Participação Institucionalizada, Regulamentação e Fiscalização, Captação das Demandas dos Usuários e Efetivação da Participação.
Resultados
A categoria Ampliação da Participação e Representatividade propôs fortalecer conselhos locais e gestão participativa, mas menos de 50% das unidades tinham conselhos ativos. Na Participação Institucionalizada, foram realizadas Conferências Municipais e mantido o Conselho Municipal de Saúde, que teve reuniões irregulares e foi extinto temporariamente. A Captação de Demandas dos Usuários apresentou falhas nas pesquisas de satisfação e no uso do app Saúde Digital, apesar da manutenção da ouvidoria. Em Regulamentação e Fiscalização, não houve revisão do regimento nem auditoria dos recursos municipais.
Conclusões/Considerações
A criação do Conselho de Participação Social marca avanço na democratização da gestão pública. A recorrência das metas e o insucesso na implementação das propostas indicam fragilidade na efetivação da participação social no SUS. É imprescindível desenvolver estratégias inovadoras que garantam maior representatividade e participação ativa da população, fortalecendo a gestão democrática e a efetivação do direito à saúde.
SAÚDE PÚBLICA COMO PRIORIDADE ELEITORAL: A INFLUÊNCIA DO SUS NAS DECISÕES DE VOTO
Comunicação Oral Curta
1 UNEMAT
Apresentação/Introdução
A saúde pública ocupa lugar central nas demandas da população brasileira e configura-se como uma das principais áreas de atenção nas agendas político-eleitorais. O Sistema Único de Saúde (SUS) representa não apenas um modelo de assistência, mas um importante marcador da atuação dos gestores públicos, que em períodos eleitorais apresentam propostas que podem influenciar o comportamento do voto.
Objetivos
Investigar a priorização da saúde pública como tema central na eleição municipal, segundo a perspectiva dos eleitores.
Metodologia
Estudo quantitativo, de caráter descritivo (CAAE: 73770123.5.0000.5166), realizado em um município mato-grossense no ano de 2024, durante o período das eleições municipais. Os participantes foram eleitores com 18 anos ou mais, residentes e votantes no município, abordados por meio de um formulário estruturado com o conteúdo acessado, os níveis de confiança e o comportamento eleitoral. Amostragem garantiu a representatividade, considerando critérios de distribuição etária, sexo, proporcional às características demográficas, conforme dados TSE e IBGE. Análise realizada no SPSS, versão 21. Os resultados foram organizados e apresentados em tabelas com frequências e proporções observadas.
Resultados
704 participantes (100%), 395 (56,1%) consideraram que a saúde pública é um tema muito importante a ser debatido nas eleições, 588 (83,5%) afirmaram que a influência da qualidade dos serviços do SUS interfere diretamente em sua escolha. 580 (82,4%) declarou ainda que pretendiam considerar a gestão da saúde pública ao escolher seus candidatos nas próximas eleições. 583 (82,8%) afirmaram que pretendiam votar em candidatos que apresentem propostas claras e objetivas para a melhoria do SUS. 596 (84,7%) destacaram que a saúde pública deve ser tratada como prioridade nas eleições municipais.
Conclusões/Considerações
Os resultados indicam que a saúde pública se consolidou como um dos principais temas de interesse da população, devendo estar no centro dos debates eleitorais e nos planos de governo dos candidatos. Os eleitores demonstram não apenas interesse, mas também expectativa por compromissos claros com a melhoria do SUS, exigindo dos candidatos uma postura propositiva, técnica e transparente.
REPRESENTAÇÃO DE TRABALHADORES NOS CONSELHOS DE SAÚDE: ESTUDO SOBRE A INFLUÊNCIA DO TIPO DE VÍNCULO TRABALHISTA E A AUTONOMIA PARA O EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL
Comunicação Oral Curta
1 UNEB
2 UFBA
3 PUC-Rio
Apresentação/Introdução
Os conselhos de saúde constituem-se em espaços permanentes e deliberativos da participação social. Estes são formados por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, com o objetivo de decidir os rumos das políticas de saúde. O tipo de vínculo empregatício dos representantes dos profissionais pode trazer implicações no posicionamento destes participantes.
Objetivos
Analisar a influência do tipo de vínculo empregatício nos posicionamentos dos representantes de trabalhadores de saúde em conselhos municipais de saúde. Visa identificar como vínculos precários interferem na autonomia desses representantes.
Metodologia
Estudo de casos múltiplos e com abordagem qualitativa, realizado em conselhos municipais de saúde de três municípios de diferentes portes populacionais no estado da Bahia: Vitória da Conquista, Guanambi e Urandi. Os dados foram coletados, em 2022, por meio de entrevistas semiestruturadas, análise documental e observação direta. Foram entrevistados 30 conselheiros de saúde, sendo 10 conselheiros de cada cidade. A análise documental contemplou as atas dos conselhos, regimentos internos e relatórios de gestão. Foi realizada observação direta das plenárias dos conselhos. Foi utilizada uma matriz analítica composta pelas dimensões: dinâmica institucional dos conselhos e tipologias representativas.
Resultados
O estudo revelou que a natureza do vínculo trabalhista exerce forte influência no exercício da representação dos trabalhadores. Nos municípios de maior porte, com predomínio de trabalhadores com vínculos efetivos, constatou-se maior autonomia desses representantes. Esses exercem maior defesa das entidades representadas e dos interesses abrangentes do SUS. No município de menor porte, os representantes dos trabalhadores possuem, essencialmente, vínculos precários e por regime de contrato. Nesse cenário, desenvolvem uma representação tímida e posicionamentos em favor da gestão municipal. A frágil representação associou-se à necessidade de preservarem os seus contratos de trabalho.
Conclusões/Considerações
A precariedade das relações de trabalho demonstrou fragilizar o exercício da representação nos conselhos de saúde. Vínculos precários de trabalho favoreceu a menor autonomia dos representantes e favoreceu um maior domínio dos interesses dos gestores. Sugerem-se o fortalecimento das políticas de gestão do trabalho e a garantia de vínculos estáveis como elementos capazes de contribuir para o aprimoramento das deliberações das políticas públicas.