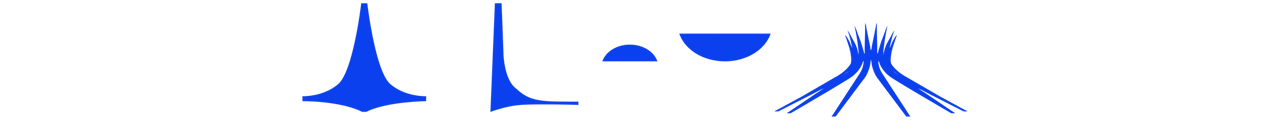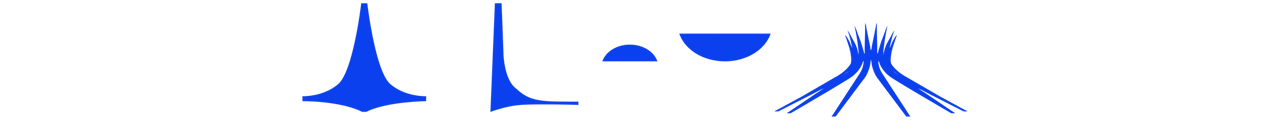Programa - Comunicação Oral Curta - COC32.1 - Vulnerabilidades em Rede: Governança Global, Crises Sanitárias e Experiências Vivas na Saúde Coletiva
01 DE DEZEMBRO | SEGUNDA-FEIRA
08:30 - 10:00
AÇÕES DE SAÚDE DIGITAL PARA POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RUA E VULNERABILIZADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA
Comunicação Oral Curta
1 Universidade de Brasília (UnB), Faculdade de Ciências da Saúde, Departamento de Saúde Coletiva.
Apresentação/Introdução
A pandemia de COVID-19 impulsionou o uso da saúde digital, evidenciando disparidades no acesso às tecnologias por populações vulneráveis, como pessoas em situação de rua. Este estudo analisa como ações digitais têm sido ofertadas a essas populações, frente à exclusão digital agravada por desigualdades sociais e à necessidade de políticas públicas inclusivas.
Objetivos
Analisar as ações de saúde digital ofertadas à população em situação de rua e populações socialmente vulnerabilizadas. Identificar benefícios, desafios, barreiras, percepções dos envolvidos e aspectos éticos relacionados ao uso dessas tecnologias.
Metodologia
Trata-se de uma revisão de literatura organizada conforme a Diretriz Metodológica do Ministério da Saúde. A busca foi realizada nas bases SciELO, BVS, Science Direct e Web of Science, utilizando a estratégia PCC, A questão de pesquisa foi: Como a produção científica tem abordado as ações de saúde digital para populações socialmente vulnerabilizadas e população em situação de rua nos últimos 5 anos? Foram incluídos artigos completos e de acesso aberto, que respondiam a questão de pesquisa, publicados entre 2020 e 2024, nos idiomas português, inglês e espanhol. Excluíram-se artigos de revisão de literatura e voltados apenas a sistemas de informação. Sete artigos compuseram a amostra.
Resultados
Os estudos analisaram telessaúde, aplicativos móveis, IA e monitoramento remoto, focando em populações de baixa renda, minorias raciais, refugiados e pessoas com doenças crônicas. Não foram encontrados estudos específicos com pessoas em situação de rua. A maioria evidenciou benefícios na ampliação do acesso, mas também destacou riscos de aprofundar desigualdades devido à exclusão digital. Ações bem-sucedidas envolveram educação digital, fornecimento de dispositivos, suporte técnico e políticas públicas colaborativas. Ressaltou-se a importância da adaptação tecnológica e da inclusão social para efetiva equidade em saúde digital.
Conclusões/Considerações
Apesar do potencial transformador da saúde digital, ainda há lacunas importantes na oferta equitativa para populações vulneráveis, sobretudo para pessoas em situação de rua. A superação das barreiras exige políticas públicas intersetoriais, investimento em inclusão digital e participação social. Tecnologias devem ser adaptadas à realidade dos usuários, promovendo acessibilidade, autonomia e respeito aos direitos humanos.
AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM BELO HORIZONTE
Comunicação Oral Curta
1 Fiocruz Minas/UFMG
2 Fiocruz Minas/UFOP
3 Fiocruz Minas
Apresentação/Introdução
Apesar da importância estratégica do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) e dos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros Pop) para esse público, há poucos estudos paliativo sobre esses serviços, especialmente sobre processos e implementação em escopos mais robustos, além de análises descritivas e de casos.
Objetivos
Avaliar a implantação do SEAS e Centros Pop em Belo Horizonte, Minas Gerais, apontando potenciais fortalezas e barreiras.
Metodologia
Trata-se de um estudo avaliativo, que buscou estabelecer o Grau de Implantação (GI) dos objetos de estudo. Foram estudadas as dimensões de estrutura e processos dos serviços. Os questionários para o GI foram elaborados com base no modelo lógico e validados por meio da técnica Delphi, em estudo de avaliabilidade prévio. Foi realizada análise descritiva das variáveis, identificando-se as médias e desvio padrão. Para a avaliação do GI do SEAS e Centros Pop foram construídas matrizes de análise e julgamento, uma para cada serviço. O GI foi classificado em quatro níveis: implantação mínima (1% a <25%), inadequada (25% a <50%), parcialmente adequada (50% a <75%) e adequada (75% a 100%).
Resultados
Os resultados do GI indicaram que ambos os serviços estavam parcialmente implantados. O GI do SEAS foi de 74,2%, e o dos Centros Pop, de 62,2%. A dimensão 'processo' teve as melhores avaliações, sendo considerada adequada no SEAS e parcialmente adequada nos Centros Pop. Entre as principais barreiras, destacaram-se a falta de veículos no SEAS e a insegurança no entorno das unidades dos Centros Pop. Como pontos positivos, o SEAS contou com capacitações no último ano e ações de mobilização social, enquanto nos Centros Pop destacaram-se sistema de informação compatível com a demanda e orientação para obtenção de documentos.
Conclusões/Considerações
O estudo oferece subsídios à gestão local, ao apontar o grau de implantação dos serviços, destacando conquistas que devem ser mantidas e barreiras que exigem intervenção. Espera-se que a metodologia abordada e os resultados descritos, inspirem pesquisadores a continuarem avançando na construção de conhecimento para investimento em mecanismos que possam melhor a vida das pessoas em situação de rua bem como promover a superação das ruas.
DA MEDICINA SOCIAL À SAÚDE GLOBAL: DESAFIOS PARA A SAÚDE COLETIVA
Comunicação Oral Curta
1 FIOCRUZ
2 ENSP/FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
A trajetória da medicina social foi marcada pelo pensamento colonial e estratégias de controle populacional fundadas na supremacia científica e política sobre os Estados-Colônias.
A Saúde Global representa uma arena político-cientifica onde atores disputam recursos, poder e estratégias de governamentalidade. O trabalho é resultado parcial da pesquisa sobre Saúde Global e Emergências.
Objetivos
Identificar e analisar as bases históricas, epistemológicas e políticas da transição do modelo da medicina social para a saúde global.
Metodologia
Revisão da literatura sobre a história da medicina social e da saúde global em perspectiva crítica, tendo em vista as bases da saúde coletiva e das teorias pós-coloniais.
Foram identificados os períodos e marcos epistemológicos e políticos, ressaltando características, continuidades e descontinuades dos campos da medicina social e da saúde global. Alguns analisadores foram utilizados como referência analítica: Biopolítica ; Risco e Vigilância Epidemiológica; securitização; medicalização e iniquidades em saúde.
Resultados
A Saúde Coletiva busca a compreensão interdisciplinar da saúde, considerando a determinação social e as complexas interações entre os indivíduos e a sociedade. A lógica da Saúde Global influencia a produção de conhecimento informada pela Saúde Coletiva, deslocando recursos e atenção de abordagens mais equitativas. O imperativo transnacional das necessidades de saúde, torna a cooperação global inegável. Essa cooperação não pode ser refém de uma agenda que reproduz relações de poder neocoloniais.
Implica reconhecer os conhecimentos e as práticas locais, fortalecer os sistemas de saúde, a soberania dos países na definição de suas prioridades e promover a governança global democrática e equitativa.
Conclusões/Considerações
Descolonizar significa ir além da assistência e reconhecer a capacidade dos países do Sul Global serem protagonistas na construção de soluções para seus próprios problemas de saúde, e também de contribuir com conhecimentos e experiências para o cenário global. Significa questionar a hegemonia de certas epistemologias e modelos de intervenção, dando espaço para a diversidade de abordagens e o diálogo horizontal entre diferentes realidades.
DOAÇÕES INTERNACIONAIS PARA A SAÚDE GLOBAL: O IMPACTO DA USAID NA MORTALIDADE GERAL ENTRE 2001 A 2021 E PROJEÇÕES DOS CORTES ANUNCIADOS ATÉ 2030
Comunicação Oral Curta
1 ISC-UFBA
2 ISGlobal, Barcelona, Spain
3 University of California (UCLA), Los Angeles, United States of America
Apresentação/Introdução
A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), principal financiadora de ajuda humanitária global, apoia países desde 1961 em áreas como saúde, educação e segurança alimentar. Em 2025, cortes de 83% ameaçam desestruturar instituições e reverter avanços na mortalidade ligada à pobreza. Torna-se primordial entender esses efeitos, especialmente em países de média e baixa renda.
Objetivos
Avaliar os impactos do financiamento da USAID na mortalidade adulta e infantil nos últimos 20 anos em países de baixa, média-baixa e média-alta renda, e projetar os efeitos dos cortes atuais até 2030.
Metodologia
Estudo quase-experimental em dois estágios, conduzido em 133 países de baixa e média renda com diferentes níveis de apoio da USAID entre 2001 e 2030. No primeiro estágio (2001–2021), utilizamos modelos de Poisson com efeitos fixos e erros robustos, ajustados por diversos fatores, para estimar o impacto nas taxas de mortalidade padronizadas por idade, incluindo análises por faixa etária, sexo e causas específicas (HIV/AIDS, malária, tuberculose, entre outras). Realizamos análises de sensibilidade, triangulação e modelos de diferenças em diferenças com pareamento por escore de propensão. No segundo estágio, integramos os achados a modelos de microssimulação para projeções de 2022 a 2030.
Resultados
Maiores níveis de financiamento per capita da USAID—concentrados no Sul Global—associaram-se à redução de 15% na mortalidade geral (razão de risco [RR]: 0,85; intervalo de confiança [IC] 95%: 0,78–0,93). Também houve queda de 32% na mortalidade infantil (i.e., menores de 5 anos, RR:0,68; IC 95%:0,57–0,80), prevenindo cerca de 91,8 milhões de mortes entre 2001 e 2021, incluindo 30,4 milhões de mortes infantis. Reduções expressivas foram observadas em HIV/AIDS (65%, RR:0,35; IC 95%:0,29–0,42) e malária (51%, RR:0,49; IC 95%:0,39–0,61), afetando sobretudo mulheres em idade reprodutiva e crianças. Projeções indicam que os cortes atuais podem resultar em mais de 14 milhões de mortes adicionais até 2030.
Conclusões/Considerações
O financiamento da USAID foi decisivo para reduzir milhões de mortes evitáveis em países de baixa e média renda. Seus impactos ultrapassam a saúde, atuando sobre determinantes sociais. Cortes recentes ameaçam reverter décadas de avanços, comprometendo o alcance dos ODS até 2030, especialmente em populações vulneráveis.
FILANTROCOLONIALISMO: CRÍTICA À HEGEMONIA CIENTÍFICA E EPISTÊMICA DO NORTE NA SAÚDE MENTAL DO SUL GLOBAL
Comunicação Oral Curta
1 USP
Apresentação/Introdução
O texto analisa como projetos filantrópicos globais, sob o discurso de promoção da saúde mental, reproduzem lógicas coloniais, epistêmicas e neoliberais. Através do conceito de "filantrocolonialismo", o autor propõe uma crítica à centralização do saber científico no Norte Global e à exclusão das vozes locais nas intervenções dirigidas ao Sul.
Objetivos
Discutir criticamente a atuação de fundações filantrópicas internacionais na saúde mental no Sul Global, evidenciando práticas de dominação epistêmica, racialização da ciência e exclusão de saberes locais.
Metodologia
A análise baseia-se no mapeamento de projetos financiados por fundações filantrópicas globais entre 2016 e 2021, com foco na promoção da saúde mental no Sul Global. O estudo examina documentos, declarações e sites institucionais, destacando padrões de financiamento, discursos e abordagens metodológicas. Foi dado ênfase à crítica foucaultiana da biopolítica, aos marcos do neoliberalismo, tecnocientificidade e colonialidade, além da ausência de abordagens etnográficas e participativas nos projetos analisados.
Resultados
Verificou-se a predominância de projetos centrados em abordagens biomédicas e genéticas financiadas por instituições do Norte, como o DepGenAfrica. Mesmo iniciativas voltadas ao Sul Global permanecem ancoradas em epistemologias hegemônicas. A ausência de consulta às populações locais, o apagamento do racismo e das consequências coloniais, e a desconsideração das ciências sociais críticas foram recorrentes. Poucos projetos abordaram o racismo ou incluíram instituições do Sul como protagonistas, e tais iniciativas foram pontuais e pouco financiadas.
Conclusões/Considerações
O estudo propõe o conceito de “filantrocolonialismo”, uma provocação para a qualificação crítica das práticas filantrópicas que reproduzem desigualdades globais de tipo colonial. Destaca a urgência de descolonizar o campo da saúde mental, incorporando saberes locais e reconhecendo as marcas do colonialismo. A filantropia, tal como praticada, legitima o status quo e contribui para a patologização e silenciamento das populações periféricas.
RELAÇÃO ENTRE O ACESSO À SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL E A MORTALIDADE POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA INTERNACIONAL
Comunicação Oral Curta
1 Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca - FIOCRUZ
2 Faculdade de Medicina - Universidade Federal do Rio de Janeiro
3 Universidade Estadual do Piauí – UESP
Apresentação/Introdução
As doenças cardiovasculares (DCV) lideram as causas de morte, mas afetam os países de forma desigual. Apesar de estarem na listas de condições sensíveis à atenção primária à saúde e dos avanços para tratamento, faltam estudos que relacionem o direito social de acesso à saúde com a mortalidade por DCV.
Objetivos
Analisar a relação entre o acesso à saúde como direito social e a mortalidade por doenças cardiovasculares, com base em evidências disponíveis na literatura científica internacional.
Metodologia
Foi realizada uma revisão integrativa com a questão: "Qual a relação entre a mortalidade cardiovascular e o direito de acesso à saúde?". Utilizou-se a base PubMed e a estratégia PECO para identificar estudos que relacionassem mortalidade cardiovascular com sistemas de saúde e acesso. Foram incluídos estudos com dados de mortalidade em países diversos e análise de acesso à saúde. A triagem foi conduzida com a ferramenta Covidence, respeitando critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos e utilizando o fluxograma PRISMA. Ao todo, foram identificados 317 estudos, dos quais 21 foram incluídos na análise final.
Resultados
Os achados evidenciam como a limitação de acesso à saúde afeta a mortalidade, também influenciada pela pobreza, cultura, classe social, entre outros fatores. No oeste africano, predominam doenças infecciosas e a mortalidade por DCV é baixa. Os altos fatores de risco entre mulheres na Arábia Saudita e entre castas médias na Índia demonstram a influência de fatores socioculturais. Em países de alta renda também existe desigualdade. Apesar da cobertura universal, a Áustria tem alta mortalidade cardiovascular e 17,9% de gasto direto. Com acesso privado, a mortalidade por DCV nos EUA é até oito vezes maior entre não segurados. No Japão, ações primárias reduziram em mais da metade a mortalidade por DCV.
Conclusões/Considerações
Os estudos mostram que o contexto socioeconômico, histórico e cultural determina o perfil de mortalidade. A mortalidade por DCV é muito sensível à APS e o acesso a este serviços e outros tratamentos impactam diretamente na mortalidade, a ausência desse direito amplia desigualdades. Os achados reforçam a importância de políticas de proteção social, que exigem decisões integradas entre setores e equidade no acesso à saúde.
RODAS DE CONVERSA, COMUNIDADE RURAL E AMBIENTE: RELATO EXPERIÊNCIA DE UM ESTÁGIO NO SEMIÁRIDO BAIANO
Comunicação Oral Curta
1 Centro Universitário Pio Décimo
2 Espaço Terapêutico Conatus
Período de Realização
Dezembro de 2024 a maio de 2025.
Objeto da experiência
O estágio realizado a partir de rodas de conversas em uma comunidade rural do semiárido baiano que passa por vulnerabilidades políticas e ambientais.
Objetivos
Relatar como o fenômeno geográfico da voçoroca afeta a dinâmica das relações presentes em uma comunidade rural do semiárido baiano. Junto a experiência de estagiar no local com rodas de conversa as quais eram debatidas as temáticas apresentadas na vida dos moradores.
Descrição da experiência
As rodas de conversa que acompanharam o estágio contavam com participantes de uma comunidade rural, os quais escolhiam um tema para ser debatido. Nas discussões foi apontada a existência de uma voçoroca, que está devastando o local, estes debates denunciaram sobre de qual modo esses sujeitos representam a saúde e os aspectos ambientais presentes, assim durante o período de estágio este ponto foi explorado através de sucessivos encontros.
Resultados
No decorrer das rodas de conversa os relatos colhidos apresentavam que o fenômeno da voçoroca põe em risco a existência da comunidade, afetando as relações presentes dos moradores, como perda da identidade coletiva e dano material. Outro aspecto está relacionado com a pouca atenção dada pelas autoridades governamentais para o local, com isso invisibiliza o problema a medida de que o fenômeno continua assolar as dinâmicas presentes na vida local.
Aprendizado e análise crítica
O Ministério do Meio Ambiente que deve garantir melhoria e recuperação ambiental ainda não se manifestou em relação a esta comunidade, qual está vulnerável a ser apagada por definitivo, assim, invisibilizado histórias as quais foram construídas durante décadas. Sendo assim, a situação da voçoroca exige compromisso político baseados em uma justiça ambiental, a qual vise a segurança coletiva. O estágio neste cenário permitiu a reflexão de como desafios podem ser encontrados em campo.
Conclusões e/ou Recomendações
Pela experiência do estágio percebeu-se vulnerabilidades presentes no local, principalmente sobre adversidades ambientais, que remetem que a comunidade resiste aos desafios encontrados, demostrando como questões individuais e coletivas se entrelaçam, dessa forma, se constrói um lugar onde as relações existentes se direcionam a sobrevivência, que inclui a vida em comunidade rural.
SISTEMA DE SAÚDE NA ÁFRICA DO SUL: DESAFIOS HISTÓRICOS, INFLUÊNCIA DO PASSADO SEGREGACIONISTA E AVANÇOS NA INCLUSÃO SOCIAL DESVELADOS NOS BRICS
Comunicação Oral Curta
1 UEL e ENSP/Fiocruz
2 ENSP/Fiocruz
Apresentação/Introdução
A África do Sul possui um sistema de saúde marcado por heranças do apartheid, que segregaram o acesso aos cuidados básicos. Desde a transição democrática, o país busca implementar políticas de inclusão e universalidade, enfrentando desafios referentes às disparidades sociais, à vigilância em saúde e à garantia de direitos humanos, essenciais para a saúde global.
Objetivos
Analisar a evolução do sistema de saúde sul-africano, suas estratégias de vigilância, desafios à inclusão social e impactos do passado segregacionista na garantia de direitos à saúde, contribuindo para compreender as desigualdades na saúde global.
Metodologia
Este estudo utilizou revisão documental de fontes oficiais, incluindo relatórios do governo sul-africano e literatura acadêmica. A análise qualitativa abordou aspectos históricos, legais e estruturais do sistema de saúde, enfatizando os dispositivos de vigilância epidemiológica e políticas de inclusão social. Foram considerados dados de registros nacionais, legislações, e estudos de caso referentes à implementação do Seguro Nacional de Saúde (NHI) e às disparidades raciais, econômicas e territoriais, buscando compreender a interface entre saúde, direitos humanos e vulnerabilidades no contexto sul-africano.
Resultados
Os resultados mostram que o sistema de saúde sul-africano apresenta avanços na implementação do NHI e na vigilância epidemiológica, destacando estratégias de monitoramento e resposta às doenças transmissíveis. No entanto, heranças do apartheid persistem, criando desigualdades no acesso a cuidados e dificultando a plena garantia de direitos humanos. A participação social é limitada por desafios institucionais, enquanto a vigilância epidemiológica evolui, porém enfrenta dificuldades de integração em níveis diferentes de atenção. O país enfrenta vulnerabilidades relacionadas às doenças crônicas e crises de acesso a medicamentos, especialmente em populações mais vulneráveis.
Conclusões/Considerações
Com isso, o país mostra sinais de avanço na sua trajetória de inclusão na saúde, impulsionados por políticas de universalidade. Contudo, as disparidades raciais, econômicas e territoriais continuam dificultando o acesso universal aos serviços de saúde na África do Sul. Deste modo, para avançar em estratégias de saúde global, direitos humanos e redução de vulnerabilidades são necessárias abordagens sensíveis às suas questões sociais e históricas.
VOZES DA COMUNIDADE CARCERÁRIA: IMPLEMENTAÇÃO DE UM COMITÊ COMUNITÁRIO (CAB) PARA O ENFRENTAMENTO DA TUBERCULOSE NAS PRISÕES DE MATO GROSSO DO SUL
Comunicação Oral Curta
1 UEMS, Fiocruz-MS
2 Fiocruz-MS
3 UFMS
4 Yale - EUA
5 SEJUSP-MS
6 Defensoria Pública - MS
7 SES-MS
8 Agepen-MS
9 Stanford - EUA
10 Fiocruz/MS - UFMS
Período de Realização
Novembro de 2023 a maio de 2025, com encontros regulares realizados nas unidades prisionais do estado.
Objeto da experiência
Criação e institucionalização de um CAB para fomentar a participação popular nas discussões sobre as estratégias de controle da TB em prisões.
Objetivos
Relatar a experiência da implementação de um Comitê Comunitário (CAB) como estratégia participativa para monitorar e fortalecer as ações de enfrentamento da tuberculose nas unidades prisionais de Mato Grosso do Sul, promovendo o engajamento da população privada de liberdade (PPL).
Descrição da experiência
A proposta surgiu da necessidade de integrar a comunidade carcerária à pesquisa em TB em andamento em duas prisões masculinas de Campo Grande-MS Com apoio da secretaria de justiça, o CAB foi formalizado em 2023, reunindo defensores públicos, servidores penitenciários, profissionais de saúde, pesquisadores e os PPL. A atuação se dá por meio de encontros dentro das prisões, em rodas de conversa, promovendo diálogo, escuta qualificada e corresponsabilidade nas ações de saúde.
Resultados
Foram realizados nove encontros presenciais com discussões sobre conhecimento sobre TB, adesão ao tratamento, exames sistemáticos, alimentação e participação familiar. A partir das reuniões foi proposto a realização de um programa de formação de agentes promotores de saúde (APSp) que encontra-se em fase inicial de estruturação. O CAB foi reconhecido institucionalmente como instância participativa, demonstrando impacto direto na percepção e aceitação das ações de pesquisa e cuidado em saúde.
Aprendizado e análise crítica
A institucionalização do CAB fortaleceu o vínculo entre pesquisa, serviços e PPL. A experiência demonstrou que escutar os sujeitos envolvidos, garantir sua fala ativa e corresponsabilizá-los na construção das estratégias amplia a legitimidade e a efetividade das ações, mesmo em contextos restritivos e vulneráveis como o sistema prisional. Ao engajar as PPL na discussão e implementação de ações de saúde, o CAB fomenta o empoderamento, a corresponsabilidade e o respeito aos direitos humanos.
Conclusões e/ou Recomendações
O CAB constitui uma boa prática replicável em outras unidades prisionais, pois amplia a participação social, fortalece o controle social em saúde e potencializa o enfrentamento da TB. Recomenda-se que instâncias gestoras estaduais e federais incorporem formalmente comitês participativos como parte das ações estruturantes da PNAISP.
ENTRE O DIREITO E O PRIVILÉGIO: A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E OS LIMITES DO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO EM TERRITÓRIOS SOCIALMENTE VULNERABILIZADOS
Comunicação Oral Curta
1 UERJ
Apresentação/Introdução
Desde que o direito à saúde foi constitucionalmente positivado a judicialização se tornou um dos principais caminhos de sua efetivação. Contudo, o acesso ao Poder Judiciário traz em seu bojo profundas desigualdades, especialmente em territórios vulnerabilizados. Este trabalho visa discutir como a capacidade de litigar interfere na equidade do cuidado, impactando diretamente a efetivação do direito à saúde.
Objetivos
Analisar criticamente a judicialização da saúde como reflexo das desigualdades estruturais e compreender como a capacidade de litigar afeta o direito à saúde em territórios vulnerabilizados.
Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo, com revisão bibliográfica interdisciplinar e análise documental com base nos relatórios Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A metodologia buscou identificar o perfil das demandas judiciais em saúde, associando-o às barreiras enfrentadas por populações em situação de vulnerabilidade para acessar o Poder Judiciário. A análise realizada permitiu refletir sobre as consequências práticas dessa desigualdade no acesso ao Judiciário na busca pela efetivação do direito à saúde e suas implicações para a equidade no cuidado.
Resultados
A judicialização da saúde tende a favorecer quem possui maior escolaridade, informação e apoio jurídico. Os moradores de territórios vulnerabilizados enfrentam obstáculos que vão além da renda: desconhecem seus direitos, não reconhecem os problemas como jurídicos, hesitam em buscar o Judiciário, dificuldades de acesso aos profissionais do Direito e instituições jurídicas, como a Defensoria Pública e a distância física entre suas residências e os Tribunais de Justiça. Essas barreiras impactam diretamente na efetivação do direito à saúde e reforçam desigualdades no acesso ao cuidado.
Conclusões/Considerações
A judicialização, embora seja via legítima de exigibilidade, ainda opera com marcante desigualdade no acesso e caráter excludente. Repensar esse cenário exige maior diálogo institucional e medidas estruturantes que levem em conta as realidades de cada coletividade. Apenas com a articulação entre políticas sociais e sistema de justiça será possível garantir o direito à saúde de modo mais equânime.