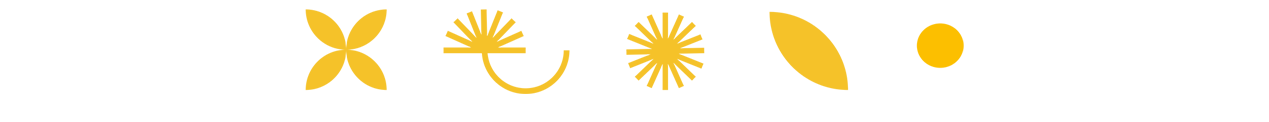
Programa - Comunicação Oral Curta - COC17.1 - Tempos e História: Racismo, Decolonialidade e os saberes em Saúde Coletiva
01 DE DEZEMBRO | SEGUNDA-FEIRA
08:30 - 10:00
08:30 - 10:00
RAÇA E RACISMO NA HISTÓRIA DA SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA NO BRASIL: POLÍTICAS DO NEGATIVO
Comunicação Oral Curta
1 USP
Apresentação/Introdução
A raça tem sido considerada categoria desimportante para análise de políticas de saúde no Brasil. As abordagens históricas afirmam que, passados os anos 1920, quando a eugenia deixa de orientar medidas no campo, ela teria desaparecido das discussões. Isso só volta a acontecer no começo do século XXI, ao entrar na agenda do Estado o debate sobre uma política focal de saúde para a população negra.
Objetivos
Este trabalho tem como objetivo elucidar como a raça esteve continuamente presente na racionalidade que ordenou a consecução das políticas públicas de saúde no país, ainda que de maneira silenciosa.
Metodologia
Foram analisados os diferentes modelos de políticas públicas de saúde adotados desde a constituição da República até o advento do SUS, segundo a periodização consolidada por Hochman. Observou-se, ainda, o período daí decorrido até a implementação da Política de Saúde da População Negra. Os arranjos foram observados segundo i) a emergência da raça no discurso legal e científico, ii) a consideração da categoria raça ou da população negra na consecução das políticas, iii) as desigualdades na saúde entre populações brancas e negras no período e iv) o que pensadores negros formulavam a época sobre as condições e demandas desta população.
Resultados
As análises mostram que a raça opera por uma elipse: ela é sempre considerada na execução das políticas, ainda que nunca nomeada. Este movimento descreve uma operação racista em reverso e negativo. Em reverso porque as políticas foram erigidas segundo parâmetros que beneficiaram ou favoreceram as populações brancas. Em negativo porque embora houvesse um conjunto de práticas discriminatórias contra o negro nestes diferentes momentos históricos, elas foram ocultadas sob arranjos burocráticos, regimes universalistas, contingenciando a política de cuidado a categorias sociais que não diziam respeito à raça, mas cuja adoção afetou diferencialmente grupos raciais brancos e negros.
Conclusões/Considerações
O trabalho permite não somente compreender os mecanismos de discriminação constitutivos das políticas de saúde ao longo da história e sua vigência no momento atual, como questionar as perspectivas historiográficas e de pensamento através das quais tem-se construído saberes na saúde coletiva. O trabalho permite considerar que adotar a raça como categoria central é fundamental para compreender este campo e avançar nos princípios que o fundamentam.
ESCRAVIDÃO, COLONIALISMO E CAPITALISMO: POR UMA HISTÓRIA DA FOME NO BRASIL
Comunicação Oral Curta
1 USP
2
Apresentação/Introdução
A história da fome é a história do Brasil. O projeto escravocrata e colonial que assenta as bases da economia brasileira se alimentou da fome da população escravizada para configurar aquilo que, hoje, compreendemos como projeto de nação brasileira. A fome, nesse sentido, foi historicamente utilizada como mecanismo de produção e controle de corpos para criação e manutenção do sistema capitalista.
Objetivos
Evidenciar o papel da fome enquanto mecanismo de controle para consolidação do projeto nacional brasileiro entre os séculos XIX e XX, a partir de uma leitura materialista histórico-dialética.
Metodologia
Pesquisa qualitativa de caráter exploratório que se construiu a partir da análise de políticas sociais e do método materialista histórico-dialético para interpretação. Foi realizada uma revisão bibliográfica de arquivos de fontes primárias e secundárias acerca do tema da história da fome no Brasil, assim como dos conflitos em torno do seu papel na sociedade de classes. Foram encontrados 502 documentos nas bases consultadas, e 59 foram selecionados após definição de critérios de inclusão/exclusão para leitura e ampliação da discussão. Os selecionados abordaram a trajetória da saúde coletiva enquanto campo de debate e disputa democrática para o surgimento de políticas de combate à fome.
Resultados
Os trabalhos apresentam diferentes perspectivas acerca do papel da fome enquanto mecanismo de controle social, confluindo para uma compreensão de que as populações escravizadas e pauperizadas foram vitimadas pelo estômago para a reprodução do lucro e manutenção da própria vida. Ao mesmo tempo, evidenciam a importância dos movimentos sociais e das lutas políticas no decorrer dos séculos XIX e XX para a consolidação de políticas de enfrentamento às desigualdades sociais e à fome no Brasil, que levaram à concretização de formas organização capazes de dar novos direcionamentos às reivindicações por melhores condições de vida das populações vitimadas pela ordem capitalista que se instaurava.
Conclusões/Considerações
O debate apresentado no presente trabalho se constitui enquanto um esforço de propor reflexões acerca dos papéis da fome enquanto ferramenta de controle social às populações que construíram as bases do nosso país. Para tanto, buscou-se observar, na literatura, as diferentes formas de apresentação do debate, assim como o de apresentar uma crítica histórico-dialética acerca da fome no Brasil e de seu papel constituidor na nossa história.
EU SINTO MEDO: A PARANOIA NEGRA NA REVISTA MÉDICA DE SÃO PAULO (1898-1914)
Comunicação Oral Curta
1 IP-USP
2 FSP-USP
Apresentação/Introdução
Este trabalho analisa como o discurso psiquiátrico na Revista Médica de São Paulo (1898-1914) patologizou sujeitos negros via diagnóstico de paranoia. A partir de Franco da Rocha e Enjolras Vampré, revela-se como a psiquiatria, ancorada no racismo científico, atuou na manutenção das hierarquias raciais no Brasil pós-abolição.
Objetivos
Analisar como o discurso psiquiátrico (1898-1914) patologizou sujeitos negros via paranoia, articulando racismo científico, saber médico e controle social para reforçar hierarquias raciais e marginalizar corpos negros no Brasil da Primeira República.
Metodologia
Pesquisa documental e histórica, baseada na historiografia crítica da Saúde Coletiva, na lógica histórica e na análise de discurso. Foram analisados textos da Revista Médica de São Paulo (1898-1914), de Franco da Rocha e Enjolras Vampré, focando na paranoia como categoria ligada ao racismo científico e controle social. A metodologia considerou o contexto sociopolítico e científico, problematizando como o discurso psiquiátrico reforçava processos de racialização, exclusão e marginalização de sujeitos negros no pós-abolição. A análise revelou como a paranoia era usada para sustentar hierarquias raciais, naturalizar desigualdades e legitimar práticas de controle social na Primeira República.
Resultados
A análise mostrou que o discurso psiquiátrico da Revista Médica de São Paulo reforçava o racismo científico e a ideologia da branquitude. A paranoia era associada a traços como desconfiança e medo, historicamente atribuídos a negros. O caso do soldado A.T.C., homem negro internado no Juqueri, revela como práticas culturais, resistência e religiosidade afro-brasileira foram tratadas como delírios persecutórios. As publicações evidenciam que a psiquiatria legitimava a ordem social, utilizando o diagnóstico de paranoia como instrumento de controle de corpos negros, naturalizando a exclusão, a violência e o encarceramento em instituições psiquiátricas no Brasil pós-abolição.
Conclusões/Considerações
O discurso psiquiátrico da Primeira República na Revista Médica de São Paulo auxiliou na consolidação do racismo científico e da marginalização de pessoas negras. No artigo analisado, a paranoia reforçava hierarquias raciais, legitimando controle e exclusão. A psiquiatria não só refletia, mas produzia normas racializadas, sustentando a branquitude como modelo de humanidade. O estudo evidencia como o saber médico estruturou desigualdades raciais no Brasil.
JULIANO MOREIRA ENTRE A CIÊNCIA E A HUMANIDADE: COMBATE AO RACISMO CIENTÍFICO E A RUPTURA COM O MODELO ASILAR NA PRIMEIRA REPÚBLICA BRASILEIRA
Comunicação Oral Curta
1 SESDF
2 UNB
Apresentação/Introdução
Juliano Moreira representa a criticidade do racismo científico e das teorias raciais que imputavam inferioridade à população negra e a elegiam como problema. Contestou a relação entre raça e loucura e foi protagonista no processo de humanização da saúde mental ao estabelecer um ambiente terapêutico livre de grades e castigos, contrapondo-se ao asilamento adotado no Hospício Nacional de Alienados.
Objetivos
Apresentar Juliano Moreira como agente central do combate ao racismo científico no Brasil;
Refletir sobre o apagamento racial de sua história, demonstrando suas contribuições para a humanização da saúde mental brasileira da Primeira República.
Metodologia
Esta pesquisa integra um Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-Graduação em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, com abordagem metodológica baseada na revisão de escopo, conforme diretrizes do Protocolo Joanna Briggs para Scoping Reviews, registrada no Open Science Framework (https://osf.io/6mb3x/), associada à análise de conteúdo de Bardin. A análise utilizou cinco bases de dados com descritores em saúde, abrangendo literatura científica e cinzenta. Este resumo destaca achados relacionados à trajetória intelectual do médico negro Juliano Moreira, enfatizando seu protagonismo na psiquiatria brasileira e sua atuação veemente crítica frente ao racismo científico durante a Primeira República.
Resultados
Juliano Moreira (1873–1933) foi um dos principais nomes da psiquiatria brasileira. Em uma época marcada pelo pensamento eugenista, foi crítico feroz do racismo científico. Refutou o determinismo racial e a atribuição da mestiçagem como fator de degeneração mental da população, defendendo que o adoecimento psíquico não era determinado pela raça, mas por fatores sociais. Como diretor do Hospício Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, rompeu com práticas punitivas, grades e castigos físicos, substituindo o isolamento por um tratamento mais humanizado. Apesar de seu legado transformador, Moreira foi injustamente silenciado pela história, um reflexo do preconceito que sempre enfrentou.
Conclusões/Considerações
Conhecer Juliano Moreira é redescobrir uma história de coragem e genialidade. Médico negro, combateu a teoria da degenerescência, enfrentou os eugenistas e o racismo científico. É possível considerá-lo como um notável precursor da mudança do discurso médico acerca da não influência das raças no adoecimento psíquico e da mudança das práticas psiquiátricas violentas, ao implantar tratamentos revolucionários para a época em um Hospício Nacional.
O ESTABLISHMENT MÉDICO E OS CUIDADOS DE MATRIZ AFRICANA NO FINAL DO SÉCULO XIX EM CAMPINAS
Comunicação Oral Curta
1 UNICAMP
Apresentação/Introdução
No contexto da epidemia de febre amarela em Campinas no final do século XIX, práticas de cuidado de matriz africana foram alvo de repressão sanitária. A união entre medicina, Estado e forças repressivas operou um processo de exclusão e criminalização desses saberes. Este trabalho propõe uma leitura crítica dessas ações considerando o contexto das relações raciais do pós-abolição.
Objetivos
Analisar a repressão às práticas de cuidado de matriz africana em Campinas no final do séc. XIX como epistemicídio, analisando a associação entre o racismo antinegro e o regime de verdades e práticas sanitárias do establishment médico.
Metodologia
A pesquisa, de natureza qualitativa e histórica, baseou-se em análise documental e bibliográfica, com ênfase em fontes secundárias, como trabalhos acadêmicos e artigos científicos que discutem o contexto sanitário e racial de Campinas no período entre 1888 e 1926. Destaca-se o uso do trabalho de Cleber da Silva Maciel (1985), cuja análise sobre a atuação de agentes do ofício da cura e mães/pais de santo em Campinas foi fundamental para compreender os mecanismos de repressão e deslegitimação desses saberes. Além disso, realizamos leitura crítica de produções sanitaristas contemporâneas que contribuem para uma narrativa pouco atenta aos efeitos da política sanitária sobre a população negra.
Resultados
Constatou-se que médicos da época atuaram na repressão de saberes negros. Por meio de campanhas públicas, construíram discurso que associava práticas de “curandeirismo” à morte e ao risco sanitário, justificando ações policiais como de saúde pública. As práticas criminalizadas eram, sobretudo, de matriz africana, expondo a intersecção do racismo com a institucionalização do monopólio da medicina científica ocidental na saúde. Oficiantes criminalizados eram presos, açoitados e obrigados a assinar “termos de bem viver”. A literatura sanitarista atual negligencia o tema, perpetuando a visão de sucesso das ações sanitárias sem considerar seus efeitos para a população negra e suas epistemologias
Conclusões/Considerações
A repressão às práticas de matriz africana, sob o mote da higiene e da saúde pública, revela como o racismo fenotípico e religioso operavam no pós-abolição na configuração da biopolítica nacional. A atuação médica contribuiu para criminalizar esses saberes, configurando-se como parte de um processo de exclusão mais amplo, ao mesmo tempo que “sanitarizava” epistemicamente o campo da saúde em benefício da soberania da medicina científica ocidental.
TEMPO HISTÓRICO, DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE E EPIDEMIAS: INTERSECÇÕES DIALÉTICAS ENTRE HISTÓRIA E SAÚDE COLETIVA EM LONGA DURAÇÃO
Comunicação Oral Curta
1 FSP-USP
Apresentação/Introdução
A Covid-19 continua a exigir da Saúde respostas comprometidas com processos históricos, sociais, políticos, econômicos, ecológicos e culturais. Assim, esta pesquisa propõe intersecção entre História e Saúde Coletiva pela dialética das durações do tempo histórico e dos entrecruzamentos do geral-particular-singular presentes na Determinação Social da Saúde, para análise de iniquidades em epidemias.
Objetivos
Desenvolver arcabouço teórico-metodológico assentado na intersecção História-Saúde Coletiva; Pesquisar a orfandade epidêmica na Gripe Espanhola e na Covid-19 em São Paulo-Capital para análise de rupturas e permanências de iniquidades em epidemias.
Metodologia
Levantamento dos marcos teórico-conceituais da Determinação Social da Saúde e do Tempo Histórico em Longo Duração, seguido de Pesquisa historiográfica e análise documental, tendo como recorte a orfandade epidêmica provocada pela Gripe Espanhola, entre os anos de 1918-1919, e pela pandemia de Covid-19, entre os anos de 2020-2021, em São Paulo-Capital. Para que a dialética seja privilegiada em todo percurso analítico, o estudo adotará a Corporeidade como dimensão singular, onde o corpo, mediado pela experiência temporal de indivíduos e coletividades e compreendido historicamente, autorizará recuperar marcas indeléveis do adoecimento na experiência humana e na memória coletiva.
Resultados
A presente pesquisa de Pós Doutorado tem realizado cotejamento entre os conceitos de Tempo Histórico e Determinação Social da Saúde para aproximações e intersecções entre os campos da História e da Saúde Coletiva, na perspectiva dialética. Paralelamente, tem se perseguido rastros das instituições que receberam crianças órfãs entre os anos de 1918-1919, levantado acervos históricos e estabelecido fundamental parceria com o Centro de Memória da Faculdade de Saúde da USP. Para o estudo da orfandade da Covid-19, têm se organizado bases de dados e demais documentos para futura consulta sobre a distribuição de óbitos e de orfandade por Covid-19, no município de São Paulo.
Conclusões/Considerações
Ao se defender que pandemias como a Gripe Espanhola e a Covid-19 não encontrarão fim, pois seguirão em longa duração nas dimensões sociais, culturais, políticas e econômicas, espera-se que novas abordagens epistemológicas evidenciem dinâmicas e mecanismos de realidade em acontecimentos epidêmicos, que possam ao fim e ao cabo conferir aportes e propor horizontes aos enfrentamentos presentes e futuros às desigualdades em saúde.
A HISTÓRIA DA TERAPIA OCUPACIONAL NA BAHIA: REFLEXÕES SOBRE UM ESTUDO BIOGRÁFICO EM DESENVOLVIMENTO
Comunicação Oral Curta
1 UFBA
2 UFPR
3 UNIFESP
Apresentação/Introdução
As raízes da Terapia Ocupacional (TO) no mundo têm início do século XX, nos Estados Unidos da América. No Brasil, a formação se iniciou no Rio de Janeiro, em 1954, frente às necessidades de assistência às vítimas de poliomielite. Na Bahia, sabe-se que a formação em nível superior iniciou em 1968, contudo, há uma lacuna nas análises históricas sobre essa fase inicial do desenvolvimento desse campo.
Objetivos
Apresentar reflexões iniciais da pesquisa biográfica sobre o terapeuta ocupacional Marcelo Esteves (1949-1987), demarcando sua relação com contextos históricos, políticos e culturais da constituição da Terapia Ocupacional e da Reabilitação na Bahia.
Metodologia
Pesquisa histórica, qualitativa, cuja posição epistemológica abandona concepções totalizantes. Iniciada em abril/2024, a investigação possui aprovação ética e utiliza entrevistas e documentos oriundos de acervos pessoais e institucionais. Sobre o nosso personagem-guia: trata-se de homem cis, branco, homossexual, de classe média alta, graduado na Escola de Medicina e Saúde Pública (1972); docente do mesmo curso (de 1973 a 1986); protagonista da criação de mais de uma entidade de organização profissional (ABTO e CREFITO-1) e de um centro de estudos; atuou na reabilitação profissional da Previdência Social; viveu em um contexto de insegurança para homens gays e foi assassinado aos 38 anos.
Resultados
O desenvolvimento do estudo tem nos provocado uma postura criativa e curiosa frente às questões que atravessam a sua trajetória de vida privada e profissional, dentre as quais ressaltamos: (1) o contexto da ditadura militar; (2) os interesses e protagonistas atuantes no início da formação em TO na Bahia; (3) as relações entre caridade e direito no acesso aos cuidados em reabilitação; (4) a qualidade, o conteúdo e intencionalidade da formação profissional; (5) a organização profissional e disputas políticas no campo de atuação e regulamentação; (6) as relações de gênero, sexualidade, raça e classe naquele contexto; (7) os diálogos interdisciplinares no estabelecimento da profissão no estado.
Conclusões/Considerações
A investigação, de caráter interdisciplinar, tem se mostrado potente tanto para elucidar fatos da historiografia até então pouco reconhecidos, como para a de preservação dessa memória, compreendida como patrimônio. Ademais, integra um esforço de justiça histórica, em respeito à história de um jovem profissional que teve sua vida interrompida pela violência, frente à qual temos o dever ético e social de enfrentarmos cotidianamente.
BREVE HISTÓRICO DA HEMOTERAPIA NO BRASIL
Comunicação Oral Curta
1 FHB
2 EGF
Apresentação/Introdução
A construção de Políticas Públicas efetivas para a prática hemoterápia cursou com grandes dificuldades. Para compreendê-la é crucial traçar um histórico do seu desenvolvimento, analisando como fatores sociais, economicos e sanitários moldaram sua evolução.
Objetivos
Analisar a evolução das políticas públicas de hemoterapia no Brasil, destacando como fatores sociais, econômicos, militares e a judicialização moldaram sua trajetória.
Metodologia
A metodologia empregada para este estudo baseou-se em uma revisão bibliográfica abrangente, focada na literatura científica disponível em bases de dados nacionais. A busca por artigos foi realizada entre abril e maio de 2025, utilizando-se de metodologias científicas rigorosas para a seleção e análise do material, garantindo a relevância e a validade das informações coletadas.
Resultados
A hemoterapia brasileira evoluiu por pressão social, AIDS e fatores militares, não por iniciativa governamental. Após 1990, a regulação seguiu modelos estrangeiros. A crise da AIDS na década de 80 foi crucial, levando a testes obrigatórios e à proibição da comercialização de sangue na Constituição de 1988. A Lei do Sangue (2001) consolidou a doação voluntária e o SINASAN. Recentemente, a judicialização forçou a atualização das normativas, derrubando a proibição da doação por homens homossexuais e garantindo o direito de recusa à transfusão por Testemunhas de Jeová, alinhando a prática a princípios éticos e de direitos humanos.
Conclusões/Considerações
As Políticas Públicas de hemoterapia no Brasil evoluíram impulsionadas por mobilização social e cenários históricos adversos. Sua construção foi, em grande parte, errática e descoordenada até a Portaria nº 158/2016 buscar sua consolidação. Atualmente, a judicialização tem sido crucial para a atualização normativa, assegurando o alinhamento com princípios éticos e direitos humanos.
A DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO SUS PELA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME E OUTRAS HEMOGLOBINOPATIAS
Comunicação Oral Curta
1 COC/Fiocruz
Apresentação/Introdução
A história da cooperação internacional sobre doença falciforme se ampliou no século XXI para as cooperações estruturantes em saúde por iniciativa do Brasil. A divulgação internacional do SUS, pela Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e Outras Hemoglobinopatias, abalou a definição de que a doença se tornaria um ônus para a saúde global.
Objetivos
Analisar como o modelo brasileiro de atenção integral às pessoas com doença falciforme disponível no SUS abalou consensos internacionais sobre políticas restritivas direcionadas aos grupos mais afetados pela doença no Sul Global.
Metodologia
Mediante a história oral e o exame de documentos, mostro como o modelo brasileiro de atenção integral à saúde ofertado pelo SUS às pessoas com DF pode abalar um almejado consenso relativo à adoção de uma política de saúde restritiva para pessoas com traço e doença falciformes, e, ao mesmo tempo, contribuir para a disseminação dos valores da reforma sanitária brasileira, como a universalidade e a equidade. Foram analisadas as cooperações técnicas em saúde, realizadas de 2006 a 2010, entre Brasil, Benin, Gana e Senegal que fazem parte do histórico da cooperação estruturante brasileira em saúde no início do século XXI, respaldada pelas Cooperações Sul-Sul.
Resultados
Gana, Benin e Senegal iniciaram ações de atenção primária à saúde para as pessoas com doença falciforme a partir dos anos de 1990, com a introdução do teste neonatal. No início do século XXI, a cooperação estruturante em saúde com o Brasil visou à consolidação do teste neonatal, mas também a disseminação do autocuidado. No entanto, era o entusiasmo em entender o funcionamento do SUS que levava a busca pelas cooperações com o Brasil. Compreender como um país de média renda oferecia medicamentos e vacinas gratuitamente, além das internações e acompanhamento desde o nascimento, surpreendia não só países estudados nesta pesquisa, mas outras nações subsaarianas.
Conclusões/Considerações
O enquadramento de uma política global restritiva às pessoas com doença falciforme no século XXI ocorreu em meio às cooperações técnicas em saúde brasileiras que deram visibilidade à política nacional para doença falciforme. A posição do Brasil no certame das Cooperações Sul-Sul também foi importante para viabilizar a divulgação e intercâmbio dos valores universalistas e igualitários da reforma sanitária brasileira que estão presentes no SUS.
EPIDEMIAS E HISTÓRIA: DAS LIÇÕES DO PASSADO AO PENSAMENTO CRÍTICO EM SAÚDE COLETIVA
Comunicação Oral Curta
1 Faculdade de Saúde Pública - USP
2 Faculdade de Medicina-USP
Apresentação/Introdução
Contribuição da História ao pensamento crítico em Saúde Coletiva no Brasil retomando o debate teórico-metodológico envolvendo a ideia de “lições do passado” em meio à complexidade das configurações de espaços decisórios, de políticas públicas e de respostas sociais em contexto epidêmico.
Objetivos
Historicizar contextos na compreensão da pandemia de Covid-19 para além de “lições do passado” e entender dilemas historiográficos diante da contemporaneidade.
Metodologia
O estudo foi realizado a partir da História com o arcabouço teórico-metodológico do tempo presente, utilizando de fontes documentais e historiografia de três epidemias — a de Gripe Espanhola, em 1918, a de Meningite Meningocócica, entre as décadas de 1940-1950 e 1970, e a de HIV/AIDS, nos anos 1980 — em suas conjunturas, singularidades e tensionamentos, articulando o conhecimento histórico aos demais saberes que se debruçam sobre o aspecto social da produção da saúde. Assim, a análise pressupôs o presente como objeto de análise histórica na busca compreendê-lo não como um período fechado, mas no tempo do acontecimento em seu contexto historicamente construído.
Resultados
Ao discutir as epidemias de Gripe Espanhola, em 1918, de Meningite Meningocócica, entre as décadas de 1940-1950 e 1970, e de HIV/Aids, nos anos 1980 pelo enfoque da história social das práticas médicas e sanitárias foi possível compreender que ao buscar vestígios do passado e trazê-los ao tempo presente, a História faz conexões e apreende processos, dinâmicas e fronteiras que desvelam contingências sob as quais se desenvolvem e institucionalizam, de forma contundente e consistente, práticas, discursos, saberes e políticas na vida social. A análise permite compreender que não existe lição do passado, mas caminhos de compreensão de contextos e historicidades dinâmicos e não lineares.
Conclusões/Considerações
Historicizar os elementos que tornam uma doença questão de saúde pública, as estratégias para enfrentá-la e seus impactos em diferentes dimensões políticas permite apreender os alicerces das ações em saúde, construindo diálogo efetivo entre o pensamento crítico em Saúde Coletiva e o tempo histórico da produção social das doenças abarcando as dimensões simbólica, ética e política dos processos em saúde
HISTORICIDADE DO CONCEITO DE DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE E SUAS INTERFACES COM OS DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE (DSS): UMA REVISÃO
Comunicação Oral Curta
1 FSP-USP
Apresentação/Introdução
Integrante do “Projeto PÓS-COVID-19 e as favelas brasileiras: a abordagem multidimensional e interseccional dos DSS no enfrentamento deste epifenômeno e das crises contemporâneas”, pesquisa-se a constituição, modulação e capilarização do conceito de Determinação Social da Saúde ao longo do processo histórico na Saúde Coletiva e suas interfaces com o conceito de Determinantes Sociais em Saúde (DSS)
Objetivos
Historicizar o conceito de Determinação Social da Saúde e suas interfaces com DSS com destaque ao Brasil, ao identificar, definir e diferenciar conceitos, linhas de estudos, abordagens teóricas e principais questões em Revisão Integrativa.
Metodologia
Revisão Integrativa de 11/2024 a 01/2025 nas bases SciELO, BVS, Lilacs, Cochrane, Cinahl, Embase, PubMed/Medline, Scopus e Web of Science, com pergunta: Como a Historicidade do conceito de Determinação Social da Saúde, se expressa na produção latino-americana das últimas décadas? Adotou-se as palavras chaves: Epidemiologia social/Epidemiologia critica/Saúde Pública/Determinantes Sociais da Saúde/Determinação social da Saúde e operador boleano AND e OR. Incluiu-se artigos, ensaios e capítulos completos em Português, Espanhol e Inglês, gratuitos, relacionados à questão em recorte de 50 anos. Excluída produção fora da temporalidade e do escopo, paga ou em língua distinta das selecionadas.
Resultados
Identificou-se 983 registros e extraiu-se 451 trabalhos duplicados. Após leitura de títulos e resumos de 532 textos, removeu-se 422 trabalhos fora do escopo. Em nova rodada com leitura integral de 110 textos, excluiu-se 33 produções que não responderam à pergunta central. Os 77 trabalhos restantes foram organizados em planilha contendo ano/autoria/país de origem/instituição de pesquisa/abordagens teóricas/delineamento do estudo/principais questões/resultados e conclusões, de onde extraiu-se as unidades temáticas: abordagens sobre Determinação e DSS na Saúde Pública; abordagens sobre Determinação e DSS na gestão e planejamento em Saúde; abordagens sobre Determinação e DSS em Saúde Global.
Conclusões/Considerações
A Revisão Integrativa permitiu historicizar o conceito de Determinação Social da Saúde em interface com DSS e localizar articulação e acionamento de enunciados que possibilitaram ou não aproximações entre seus respectivos pressupostos, impulsionando desdobramentos teóricos, práticos e políticos no campo da Saúde Coletiva e em tomadas de decisão nas ações em saúde, em diferentes contextos históricos.
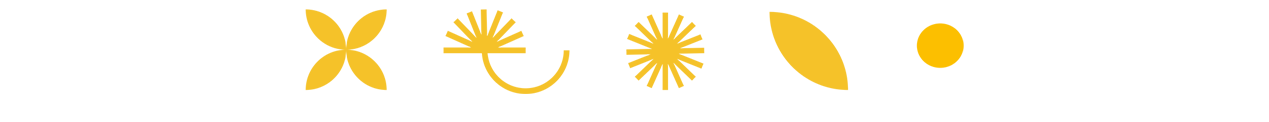
Realização:


Patrocínio:




Apoio:






