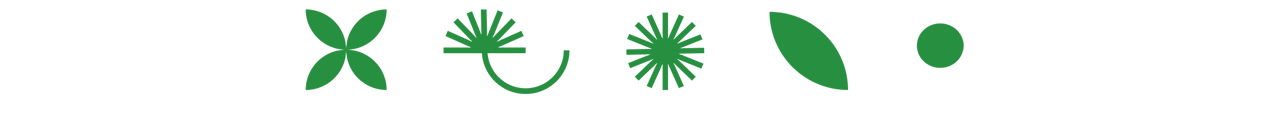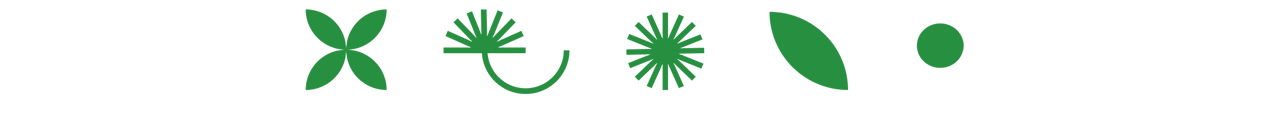Programa - Comunicação Oral Curta - COC31.1 - Saúde Materno-Infantil e Pré-Natal indígenas
01 DE DEZEMBRO | SEGUNDA-FEIRA
08:30 - 10:00
AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO PRÉ-NATAL OFERTADA ÀS MULHERES INDÍGENAS GUARANI NO SUL/SUDESTE: UM ESTUDO DESCRITIVO NA LINHA DE BASE DA I COORTE DE NASCIMENTOS INDÍGENAS NO PAÍS.
Comunicação Oral Curta
1 ENSP/FIOCRUZ
2 UEPA
3 UERJ
4 UFF
5 UNICEF
6 UFRJ
Apresentação/Introdução
Estudos epidemiológicos acerca da atenção pré-natal às mulheres indígenas são ainda limitados no Brasil. Frente às desigualdades nas condições de saúde materno-infantil entre indígenas e não indígenas, evidencia-se a necessidade de ampliação do conhecimento, a fim de subsidiar e apoiar o planejamento e reorientação de políticas públicas para a qualificação da atenção pré-natal a esses povos.
Objetivos
Avaliar a atenção pré-natal ofertada às mulheres indígenas Guarani no Sul e Sudeste do país a partir da linha de base da I Coorte de Nascimentos Indígenas no Brasil, descrever suas características e comparar com as orientações do Ministério da Saúde.
Metodologia
Estudo transversal a partir da linha de base da Coorte Guarani, realizada com mães de crianças indígenas de aldeias Guarani, no âmbito dos DSEI Litoral e Interior Sul, que tiveram parto entre 01/06/14 e 31/05/16. A coleta de dados ocorreu por meio dos registros do cartão da gestante e ambulatoriais de atendimento nas aldeias. A adequação do pré-natal baseou-se nas recomendações do Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde de 2012. Utilizou-se o pacote estatístico R v.4.4.2. A adequação mínima de pré-natal foi considerada quando a gestante o iniciou até o 1º trimestre gestacional, obteve ≥ 6 consultas, teve registro dos exames clínico e laboratoriais e prescrição de sulfato ferroso.
Resultados
Fizeram parte do estudo 371 mulheres. Destas, 58,7% tinham 20-34 anos, 41,2% iniciaram o pré-natal no 1º trimestre, 69,8% com ≥ 6 consultas e 97,5% tiveram prescrição de sulfato ferroso. As coberturas para DTP e reforço dT foram de 81,9%, e contra hepatite B, 91,1%. Em pelo menos uma consulta, a oferta de procedimentos obstétricos foi acima de 90%, exceto para exames de mama, 82,4%. A realização de exames laboratoriais ficou entre 80% e 90%, exceto urinocultura, 74,1%, e parasitológico de fezes, 43,9%. Testes rápidos para sífilis e HIV não foram feitos em 18,1% e 23,9%, respectivamente. Somente 21,6% das gestantes realizaram todos os exames e 8,4% atingiram todos os critérios de adequação.
Conclusões/Considerações
O estudo indicou que as recomendações para o início precoce do pré-natal, número de consultas, conjunto de exames e percentual de imunização ainda apresentam resultados desfavoráveis para as indígenas Guarani do Sul e Sudeste. Destaca-se a importância de análises rotineiras sobre a oferta de serviços para a melhoria das condições de vida dos indígenas no país, reconhecendo suas vulnerabilidades em comparação com o restante da população.
CARACTERÍSTICAS MATERNAS E DE PRÉ-NATAL ENTRE PUÉRPERAS INDÍGENAS ADOLESCENTES NO MATO GROSSO DO SUL
Comunicação Oral Curta
1 UFU
2 Fiocruz Mato Grosso do Sul
3 UEMS
4 UFMS
Apresentação/Introdução
As taxas de gravidez na adolescência vêm diminuindo no Brasil ao longo dos anos, entretanto, a sua distribuição é desigual, especialmente entre as adolescentes indígenas.
Objetivos
Descrever as características maternas e de acesso ao pré-natal entre puérperas indígenas adolescentes do estado de Mato Grosso do Sul.
Metodologia
Estudo transversal com 121 puérperas adolescentes indígenas que residiam na área rural ou urbana do estado e que tiveram seus partos e/ou receberam atendimento pós-parto imediato em treze unidades hospitalares de dez municípios de Mato Grosso do Sul, entre 2021e 2022. Os dados foram extraídos das entrevistas com as puérperas durante a internação hospitalar, por meio de instrumento estruturado e coletado da caderneta da gestante. Foram analisadas variáveis referentes às características sociodemográficas, e acesso ao pré-natal. O estudo foi aprovado pela CONEP, sob o parecer nº (n. 5393.703/2020)
Resultados
Das 121 mulheres adolescentes com idade mínima de 12 anos e máxima de 19 anos, a maioria (65%) era da etnia Guarani-Kaiowa, era solteira (52,1%), e tinha o ensino fundamental (57,0%). Quanto à gestação atual, 46,3% realizou sete ou mais consultas de pré-natal e 65,3% apresentavam risco habitual, conforme o cartão pré-natal.
Conclusões/Considerações
Esses achados reforçam a necessidade de políticas públicas que promovam o acesso equitativo à educação, saúde sexual e reprodutiva e cuidados obstétricos de qualidade, com atenção especial à população indígena e adolescente.
CO-CRIAÇÃO DE UM GUIA DE ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL PARA MULHERES YANOMAMI E YE’KWANA: ARTICULAÇÃO ENTRE SABERES TRADICIONAIS E CIENTÍFICOS PARA UM CUIDADO ADEQUADO E SENSÍVEL
Comunicação Oral Curta
1 UFMG
2 Unifesp
Período de Realização
Esta experiência de pesquisa e produção foi desenvolvida de agosto de 2024 a maio de 2025.
Objeto da experiência
Co-criação de um Guia de atenção ao Pré-Natal adequado e culturalmente sensível às especificidades da Terra Indígena Yanomami.
Objetivos
Relatar a produção de um guia de atenção ao pré-natal voltado ao cuidado multiprofissional de mulheres Yanomami e Ye’kwana. Sendo uma das respostas às demandas das mulheres yanomami nos Encontros de Mulheres Yanomami dos últimos anos e à crise sanitária na TIY.
Descrição da experiência
Uma equipe multiprofissional e multi institucional, composta por pesquisadoras Yanomami e Ye’kwana, profissionais do Distrito Sanitário Especial Yanomami e Ye’kwana e pesquisadores da UFMG, UNIFESP e do Hospital Sofia Feldman, foi constituída para desenvolver o guia “Temi totihi: Guia de Atenção ao Pré-Natal na TIY”. O grupo se reuniu durante 10 meses, para oficinas de co-criação multilíngues, diagnósticos em campo na TIY e na Casa de Saúde Indígena.
Resultados
Documento técnico e formativo que articula diretrizes clínicas, estratégias de manejo e práticas culturalmente sensíveis voltadas ao cuidado adequado e ético às gestantes e puérperas Yanomami e Ye’kwana. Expõe-se a flexibilização ora de saberes científicos, ora de saberes tradicionais, de modo a negociá-los ou expor as possibilidades e tensões em suas articulações. Como exemplo, a medicação para anemia, que altera a dosagem preconizada para melhor adaptação às dinâmicas Yanomami.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou que a construção de materiais técnicos voltados a TIY requer escuta ativa, articulação de saberes tradicionais e evidências científicas com respeito às dinâmicas locais de cuidado. Destacando a importância do diálogo intercultural e da colaboração entre mulheres Yanomami e Ye’kwana e os profissionais de saúde que estão em território, a fim de co-criar estratégias de cuidado que tornam possível e efetivas as ações em saúde materno-infantil na TIY.
Conclusões e/ou Recomendações
Considera-se que a construção de materiais técnicos, guias e protocolos possam ser desenvolvidos a partir de dinâmicas de co-criação, que permitam o envolvimento de pessoas interessadas nos cuidados, sejam usuários dos serviços ou profissionais de saúde e de saberes científicos e tradicionais. As dinâmicas de co-criação possuem uma potência formativa para os que se integram nela e contribuem para a efetivação do uso desses documentos na prática.
COMPREENSÃO DA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA POR MULHERES INDÍGENAS ATENDIDAS EM UM HOSPITAL DE TONANTINS-AM
Comunicação Oral Curta
1 UEA
2 ILMD Fiocruz Amazônia
3 UEA/ILMD Fiocruz Amazônia
Apresentação/Introdução
Mulheres indígenas e não indígenas vivenciam partos de formas distintas, sendo essencial garantir o conhecimento e o consentimento de cada etapa, pois a exclusão da vontade materna configura violência obstétrica. Nessa perspectiva, os profissionais da saúde devem respeitar especificidades étnico-culturais, assegurando um cuidado qualificado, inclusivo e livre de violências.
Objetivos
Compreender a assistência obstétrica oferecida às mulheres indígenas atendidas em um hospital de Tonantins/AM, analisando sua percepção sobre a assistência recebida, as práticas de violência obstétrica e a presença de saberes tradicionais no cuidado.
Metodologia
Trata-se de estudo qualitativo, descritivo, exploratório, realizado com 8 mulheres indígenas das etnias Kaixana e Kokama, da Comunidade São Sebastião, Tonantins-AM. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada, utilizando-se de questionário com questões relativas a dados sociodemográficos, experiência geral com a assistência obstétrica no hospital, as diferenças entre o atendimento obstétrico no hospital e os cuidados tradicionais e suas percepções. Os dados foram analisados pela técnica de Análise Temática de Braun e Clarke, contribuindo para a construção de categorias analíticas. O estudo respeitou os preceitos éticos da resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.
Resultados
A faixa etária das participantes variou entre 20 e 41 anos, sendo a maioria com ensino médio completo. Apesar dos relatos positivos quanto ao respeito à cultura indígena e a presença de apoio familiar, a ausência de linguagem acessível, e a não consideração das especificidades culturais nas interações entre profissionais e mulheres indígenas, incluindo a falta de capacitação específica, contribuem para a manutenção de práticas coercitivas e reforçam barreiras no acesso a uma atenção à saúde integral, segura e respeitosa, destacando premente a necessidade de políticas públicas que priorizem a formação profissional pautada na humanização e no respeito aos saberes tradicionais.
Conclusões/Considerações
O estudo revelou que, para indígenas Kaixana e Kokama, a assistência obstétrica foi marcada por sofrimento, abandono, desrespeito, negligência e discriminação. É fundamental repensar o modelo de atenção à saùde obstétrica, com foco na equidade, no respeito aos direitos reprodutivos, na valorização da diversidade cultural e formação profissional com visão decolonial e antirracista. A voz dessas mulheres, ecoada nesta pesquisa, é um chamado à ação.
CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA PARA MENSURAÇÃO DE DESFECHOS DA COORTE DE GESTANTES, PUÉRPERAS E NASCIDOS VIVOS RESIDENTES NO TERRITÓRIO INDÍGENA XUKURU DO ORORUBÁ
Comunicação Oral Curta
1 UFPE
2 Fiocruz-PE
3 EMSI Xukuru do Ororubá
Período de Realização
De setembro de 2024 a março de 2025.
Objeto da produção
Desenvolvimento e validação de instrumentos técnicos para coleta de dados materno-infantis em território indígena.
Objetivos
Descrever o processo de desenvolvimento de instrumentos de coleta de dados como etapa preparatória da pesquisa de coorte com gestantes, puérperas e nascidos vivos no território indígena Xukuru do Ororubá, visando à mensuração de desfechos de saúde materno-infantil com rigor técnico e sensibilidade cultural.
Descrição da produção
A produção seguiu etapas sistematizadas: (1) levantamento bibliográfico sobre indicadores de atenção materno-infantil; (2) elaboração preliminar dos instrumentos; (3) oficina com especialistas; (4) oficina com a EMSI e coordenação do Polo Xukuru; (5) ajustes técnicos e inserção na plataforma KoboToolbox; (6) elaboração de tutoriais; (7) treinamento das equipes; (8) teste piloto com tablets e avaliação; (9) revisão final dos instrumentos.
Resultados
Foram desenvolvidos 12 instrumentos, totalizando 620 variáveis voltadas ao ciclo gravídico-puerperal e ao acompanhamento de nascidos vivos até o primeiro ano de vida. Os formulários, aplicados por tablets via KoboToolbox, demonstraram agilidade operacional. O teste piloto evidenciou boa aceitação pelas gestantes e pela EMSI, facilidade de aplicação e validade técnica dos instrumentos, assegurando sua efetividade no contexto local.
Análise crítica e impactos da produção
A construção participativa conferiu aos instrumentos alta aderência à realidade sociocultural do território Xukuru. A padronização do preenchimento, por meio de tutoriais detalhados, qualificou a coleta e a análise dos dados. A produção fortaleceu capacidades locais em vigilância materno-infantil, ampliou a autonomia da EMSI e introduziu inovação metodológica com potencial de replicabilidade em outros contextos do SUS.
Considerações finais
A experiência resultou em ferramentas robustas, sensíveis ao contexto indígena e tecnicamente consistentes para a mensuração de desfechos materno-infantis. Além de qualificar a informação em saúde, fortaleceu a atuação da EMSI e subsidiou estratégias de cuidado baseadas em evidências. Reafirma-se, assim, o papel transformador da produção técnica como vetor de equidade no SUS.
INQUÉRITO SOBRE A QUALIDADE DO PRÉ-NATAL E PARTO ENTRE MULHERES INDÍGENAS EM MS: DESAFIOS, MÉTODOS E POTENCIALIDADES EM CONTEXTO INTERCULTURAL
Comunicação Oral Curta
1 UFMS.
2 UEMS
3 Fiocruz. Mato Grosso do Sul
Período de Realização
Novembro de 2021 a agosto de 2022
Objeto da experiência
Estudo sobre cobertura e qualidade da atenção pré-natal e do parto oferecida a mulheres indígenas em Mato Grosso do Sul, realizado em 10 municípios.
Objetivos
Apresentar os resultados do inquérito epidemiológico estadual, caracterizando os cenários da atenção à saúde materna indígena em MS; identificar barreiras de acesso e qualidade; e relatar estratégias metodológicas e de disseminação utilizadas para garantir rigor científico e respeito intercultural.
Metodologia
A pesquisa, coordenada pela Fiocruz/MS, entrevistou 467 puérperas indígenas em 12 hospitais e 1 casa de parto de 10 municípios sul-mato-grossenses. O estudo aplicou instrumentos estruturados e realizou análise de documentos clínicos, como cadernetas da gestante. Foram produzidos materiais de divulgação científica acessíveis, como o Catálogo Oguata e podcasts, visando informar comunidades indígenas e gestores de saúde.
Resultados
Cerca de 67% das gestantes iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre, 50% realizou sete ou mais consultas. A maioria foi atendida em UBSI por equipes multiprofissionais. Barreira de acesso como falta de transporte e fragilidades na integração entre subsistemas de saúde foram destacadas. Apesar dos desafios, a pesquisa fortaleceu o diálogo entre conhecimento biomédico e saberes tradicionais e produziu dados relevantes para qualificação das políticas públicas voltadas à população indígena.
Análise Crítica
A experiência demonstrou a importância da construção metodológica sensível ao contexto sociocultural indígena. A pandemia exigiu adaptações logísticas significativas, mas também estimulou a inovação na comunicação científica. A subnotificação de dados clínicos nos documentos das gestantes, aliada à desarticulação entre serviços do SasiSUS e das redes municipais, reforça a necessidade de fortalecer a educação permanente das Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena (EMSI).
Conclusões e/ou Recomendações
Recomenda-se o fortalecimento das EMSI, ampliação da oferta de exames, vacinas e transporte seguro, além da institucionalização de fluxos entre Polos Base e serviços de alto risco. Destaca-se a importância de políticas que integrem práticas tradicionais e valorizem o protagonismo indígena no cuidado materno-infantil. Sugere-se a criação de comitês de investigação de óbitos maternos e infantis com representatividade indígena.
ESTADO NUTRICIONAL PRÉ-GESTACIONAL DE MULHERES INDÍGENAS NO MATO GROSSO DO SUL: CONTEXTO SOCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO
Comunicação Oral Curta
1 FIOCRUZ Mato Grosso do Sul
2 UFMS
3 UNIDERP
Apresentação/Introdução
O estado nutricional pré-gestacional é um importante preditor de saúde materno infantil, sendo utilizado para identificar precocemente riscos gestacionais. As condições socioeconômicas, demográficas e de assistência à saúde desfavoráveis vivenciadas pela população indígena, aumentam a vulnerabilidade da mulher indígena frente ao acompanhamento nutricional adequado durante a gestação.
Objetivos
Verificar a prevalência do estado nutricional pré-gestacional no contexto socioeconômico e demográfico das mulheres indígenas no Mato Grosso Sul.
Metodologia
Estudo transversal, com 417 puérperas indígenas, que tiveram parto e/ou atendimento pós-parto imediato em unidades hospitalares de estado, entre 2021 e 2022. Os dados antropométricos, socioeconômicos e demográficos foram coletados, por meio de registros em caderneta e entrevistas com a puérpera no pós-parto imediato. Para a classificação do estado nutricional pré-gestacional adotou-se as recomendações do World Health Organization (WHO, 1995), considerando-se para o baixo peso (IMC < 18,5 kg/m²), peso adequado (IMC = 18,5 a 24,9 Kg/m²), sobrepeso (IMC = 25 a 29,9 kg/m²) e obesidade (>30 kg/m²). Estudo aprovado pela Comissão Nacional de Ética de Pesquisa (CONEP), parecer de nº 4.970.421.
Resultados
Das 417 puérperas indígenas, 271 (65%) iniciaram a gestação com obesidade, 138 (33%) eutrofia e 8 (2%) baixo peso. As maiores prevalências de obesidade foram entre as puérperas da etnia Kaiowá/Guarani (40,3%), com ensino fundamental (35,7%), com companheiro (45,3%), residentes na zona rural (58,7%) e que recebiam benefícios sociais (58,7%). Quanto à prevalência do baixo peso, a maioria foram puérperas Terena (75%), com ensino médio (50%), com companheiro (87,5%), residentes na zona rural (7- 87,5%) e que recebiam benefícios sociais (62,5%).
Conclusões/Considerações
Os resultados evidenciam a elevada prevalência da obesidade, além do perfil socioeconômico e demográfico semelhante nos desvios nutricionais das puérperas indígenas. Isto revela um contexto de vulnerabilidades sociais e de saúde vivenciado pela mulher indígena e fragilidades no acompanhamento nutricional do pré-natal, considerando que o estado nutricional pode ser modificável e compromete a saúde da mãe e do bebê.
A PREVALÊNCIA DE ANEMIA EM CRIANÇAS INDÍGENAS EM MATO GROSSO DO SUL: UM ESTUDO TRANSVERSAL
Comunicação Oral Curta
1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
2 Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
3 Fundação Oswaldo Cruz de Mato Grosso do Sul (FIOCRUZ-MS)
4 Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)
5 Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UESM)
Apresentação/Introdução
A anemia, principal deficiência nutricional global (afetando 2,36 bilhões em 2015), tem alta prevalência em crianças e mulheres, especialmente em populações vulneráveis. Em indígenas, agrava-se por desigualdades e iniquidades sociais. Este estudo analisa a anemia em crianças Guarani Kaiowá de MS, visando subsidiar políticas intersetoriais em saúde indígena.
Objetivos
Estimar a prevalência de anemia entre crianças indígenas, analisando os fatores demográficos e socioeconômicos associados em crianças indígenas em Mato Grosso do Sul.
Metodologia
Estudo transversal com base em uma coorte prospectiva de crianças indígenas, filhas de mulheres que participaram da pesquisa Avaliação do pré-natal e parto. Participaram da pesquisa 229 crianças de um ano de idade residentes em dez territórios indígenas e nas comunidades urbanas de Mato Grosso do Sul, entre janeiro e agosto de 2023. Para a dosagem sanguínea de hemoglobina das crianças, coletou-se uma gota de sangue capilar através de uma perfuração cutânea feita por uma lanceta, e essa gota foi analisada em hemoglobinômetro portátil. As crianças com níveis de hemoglobina < 11 g/dL foram consideradas anêmicas. Na entrevista foram coletados dados de etnia e aldeia/município de residência.
Resultados
A média de hemoglobina foi de 10,26g/dL (8,7-11,82) e a prevalência de anemia foi de 66% (n=149). A maioria das crianças do estudo é da etnia Guarani Kaiowá 69% (n=158), sendo esta etnia com o maior percentual de casos de anemia 47,6% (n=109). As aldeias pertencentes ao município de Dourados possuem o maior número de crianças do estudo, 36,2% (n=83). No entanto, o maior percentual de crianças com anemia foi encontrado em Amambai (23,6%).
Conclusões/Considerações
A elevada prevalência de anemia nas crianças indígenas e a sua ocorrência em aldeias onde vivem o povo Guarani e Kaiowá sinalizam para vulnerabilidades de vida e de saúde das crianças indígenas de Mato Grosso do Sul. Os resultados demonstram a necessidade de ações intersetoriais para o acompanhamento do estado nutricional das crianças indígenas do estado do Mato Grosso do Sul, principalmente as crianças da etnia Guarani e Kaiowá.
HOSPITALIZAÇÕES DE CRIANÇAS INDÍGENAS POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS DISTRITOS SANITÁRIOS ESPECIAIS INDÍGENAS, BRASIL, 2011 A 2019
Comunicação Oral Curta
1 ISC/UFF
2 EEAN/UFRJ
3 Faculdade de Medicina do Sertão
Apresentação/Introdução
A avaliação de hospitalizações é um importante balizador de eficiência da política de Atenção Primária (APS), especialmente quando observadas para segmentos específicos da população, a exemplo de crianças indígenas. Nos últimos anos, acompanhando a tendência de melhora das condições de saúde no Brasil, o impacto de internações por causas sensíveis é marcado pela tendência de constante declínio.
Objetivos
Descrever as ocorrências de hospitalizações de crianças indígenas (< 5 anos) causadas por condições sensíveis à Atenção Primária à Saúde (ICASAP) segundo Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), no período de 2011 a 2019.
Metodologia
Os dados foram recuperados no Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), incluindo internações de crianças menores de 5 anos de idade identificadas como indígenas e registradas entre os anos de 2011 e 2019 (antes da pandemia de Covid-19). Com base nos municípios de residência dos indígenas, foram sobrepostos os limites geográficos dos DSEI. As internações foram classificadas quanto às causas e agrupadas para o conjunto de casos evitáveis pela ação da APS. Taxas de ICSAP tabuladas segundo ano de ocorrência foram comparadas entre os DSEI.
Resultados
Foram recuperadas 63.228 internações (média 7.205/ano). Do total, 72,0% eram CSAP (112 por mil, no período). A maior parte das internações ocorreu em DSEI das regiões Norte (44,7%) e Centro-Oeste (31,3%). No DSEI Kaiapó do Pará, 91,2% das internações ocorreram por CSAP. A menor frequência foi observada no DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes (42,4%). Quase todas as internações CSAP estavam ligadas às gastroenterites e pneumonias bacterianas (81,1%). Fora dos DSEI, 67,4% das internações de crianças indígenas eram preveníveis no nível da APS.
Conclusões/Considerações
Apesar da redução das internações de crianças por causas evitáveis no Brasil como um todo, as ocorrências se mostraram bastante desiguais, com elevadas ocorrências no contexto dos DSEI. As consequências das desigualdades em saúde atingem grupos menos favorecidos em termos socioeconômicos, mas as elevadas magnitudes entre os povos indígenas, anunciam barreiras contundentes quando analisadas em contextos de diversidade étnica e geográfica.
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM FAMÍLIAS INDÍGENAS DE MATO GROSSO DO SUL
Comunicação Oral Curta
1 FIOCRUZ Mato Grosso do Sul
2 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Apresentação/Introdução
A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) consiste na garantia do direito ao acesso regular e permanente a alimentos em quantidade suficiente, adequados e culturalmente aceitáveis. Em contextos indígenas, a perda de territórios tradicionais, o apagamento cultural e a desigualdades sociais, econômicas e assistenciais, limita o acesso aos alimentos e a promoção da dignidade humana.
Objetivos
Verificar a prevalência SAN e contexto socioeconômico e demográfico de famílias indígenas no Mato Grosso do Sul.
Metodologia
Estudo transversal realizado com 227 famílias indígenas de mulheres e crianças participantes da pesquisa “Avaliação da saúde e nutrição de mulheres e crianças indígenas em Mato Grosso do Sul: uma coorte de gestantes e nascimento”, no período de janeiro a agosto de 2023. A verificação e classificação dos níveis de SAN ocorreu através da Escala Brasileira de Medida Domiciliar de Segurança e Insegurança Alimentar e Nutricional Indígena (EBIA-Indígena). Para caracterizar o domicílio foram utilizadas as variáveis socioeconômicas e demográficas. Os dados foram coletados por meio de entrevistas às mães. Estudo aprovado pela Comissão Nacional de Ética de Pesquisa (CONEP), parecer de nº 5.887.564.
Resultados
Das 227 famílias indígenas, 6 (2,7%) apresentavam SAN, e 221 (97,3%) apresentavam algum nível de InSAN (leve-63,4%, moderada-26,9% e grave-7%). A maioria dos domicílios visitados eram em Dourados (83-36,6%), da etnia Guarani/Kaiowá (157-69,2%), com mães entre 20 a 34 anos (167-73,6%), contendo 4 a 5 pessoas (87-38,3%) e 3 a 4 menores de 18 anos (77-33,9%). Quanto à renda e aquisição de alimentos, a maioria das famílias recebe do Programa Bolsa Família (84,1%), os alimentos são comprados em mercados (218-96%), porém ocorre recebimento de cestas básicas (175-77,1%). As principais estratégias utilizadas na falta de alimentos são a compra fiada (54-25,4%) e ajuda para parentes (90-44,8%).
Conclusões/Considerações
Observou-se uma elevada prevalência de InSAN, com predominância da InSAN leve nas famílias indígenas. Estes achados evidenciam a vulnerabilidade socioeconômica, decorrente da dependência de programas sociais e necessidade de ajuda para o acesso regular aos alimentos, bem como a urgência de políticas públicas que garantam o direito à alimentação adequada e promovam a dignidade da população de indígenas no Mato Grosso do Sul.