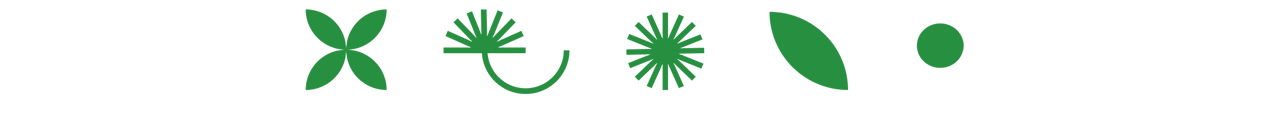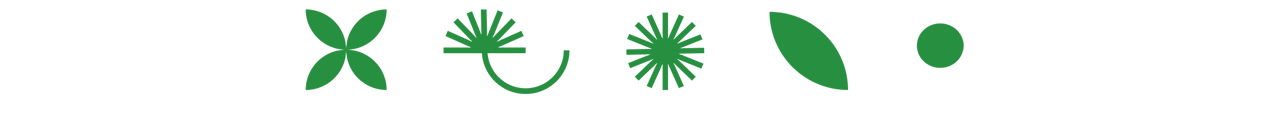Programa - Comunicação Oral Curta - COC14.1 - Envelhecimento, longevidade e serviços de saúde
01 DE DEZEMBRO | SEGUNDA-FEIRA
08:30 - 10:00
AMBIENTE PERCEBIDO PARA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NA VIZINHANÇA E INCIDÊNCIA DE DINAPENIA – RESULTADOS DO ELSA BRASIL
Comunicação Oral Curta
1 UFMG
Apresentação/Introdução
A forma como o indivíduo percebe sua vizinhança pode influenciar a adoção de hábitos saudáveis, como a prática de atividade física. Ambientes seguros e com locais adequados tendem a favorecer essa prática, a qual está associada à dinapenia. Assim, é plausível considerar uma possível relação entre o ambiente percebido da vizinhança e a incidência de dinapenia.
Objetivos
Esse trabalho tem como objetivo investigar a associação entre a percepção do ambiente para atividade física na vizinhança (Walking Environment) e incidência de dinapenia em adultos e idosos do Estudo Longitudinal e Saúde do Adulto - ELSA-Brasil.
Metodologia
Utilizou-se dados de 5.469 participantes da segunda e terceira visita do ELSA Brasil. Foram incluídos indivíduos livres de dinapenia na segunda visita e com 55 anos ou mais na terceira visita. A dinapenia foi definida como presente em medidas <27 kg para homens e <16 kg para mulheres de força de preensão manual. O ambiente percebido para atividade física (Walking Environment) foi avaliado por meio de uma escala de autopercepção da vizinhança, composta por 9 perguntas. As respostas, obtidas em escala de Likert de 5 pontos, foram somadas os escores totais foram categorizados em tercis. A associação entre o desfecho e a exposição foi estimada por Regressão de logística.
Resultados
A média de idade foi de 62 anos (DP 土6,05) na segunda visita e 55% eram do sexo feminino. A incidência de dinapenia entre as ondas 2 e 3 foi 9% (N=491). Não foram encontradas associação estatística entre a autopercepção de ambiente propício para prática de atividade física e incidência de dinapenia no modelo bruto (tercil médio: OR:1,12; IC95% 0.89-1.41 e 3º tercil: OR=1,17; IC95% 0.94-1.47). O modelo ajustado por sexo, idade, raça/cor, ocupação e escolaridade permaneceu sem associação, OR foi de 1,11 (IC95%: 0,88-1,41) para o tercil médio, e de 1,23 (IC95%: 0,98-1,55) para o terceiro tercil, em comparação ao tercil mais baixo.
Conclusões/Considerações
A incidência de dinapenia aumentou entre as ondas, conforme esperado. No entanto, contrariamente à hipótese inicial, a autopercepção de um ambiente mais propício à prática de atividade física não se associou à incidência de dinapenia. Observou-se uma tendência de maior incidência no tercil superior de percepção positiva do ambiente, porém essa associação não atingiu significância estatística.
ENVELHECIMENTO E LONGEVIDADE DA POPULAÇÃO BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DAS DESIGUALDADES REGIONAIS POR MEIO DE INDICADORES DEMOGRÁFICOS COMPOSTOS
Comunicação Oral Curta
1 UFRN
2 UnB
Apresentação/Introdução
O envelhecimento populacional é uma realidade em diversos contextos geográficos. No entanto, ele não ocorre de forma uniforme. Há desigualdades regionais importantes quando olhamos para os dados do envelhecimento populacional do Brasil. Essas desigualdades se manifestam quando temos como base os indicadores clássicos, indicadores alternativos e multidimensionais.
Objetivos
Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi explorar o envelhecimento populacional no Brasil sob uma perspectiva demográfica por municípios, analisando aspectos relativos às desigualdades regionais.
Metodologia
Realizou-se estudo agregado, observacional e transversal com dados secundários do Censo 2022 sobre a população idosa (60 anos ou mais) nos 5.570 municípios do Brasil. Analizou-se sete medidas: percentual de população idosa (%PI), índice de envelhecimento (IE), índice de longevidade (IL), índice de dependência de pessoas idosas (IDPI), índice de substituição na força de trabalho (ISPFT), mediana de idade da população (MEDidpop) e índice de previsibilidade de envelhecimento (IPE) e as cinco regiões do país. Após análise de multicolinearidade por correlação de Pearson (r > 0,9), quatro variáveis foram retidas e submetidas à Análise de Componentes Principais (ACP): MEDidpop, IDPI, IL e ISPFT.
Resultados
Os municípios mais envelhecidos do país concentram-se no Rio Grande do Sul e na região Sul, com destaque para a variação de 33% no índice de envelhecimento no estado gaúcho. A maior proporção de idosos com 80 anos ou mais foi observada na Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. A região Nordeste concentrou os maiores índices de longevidade. Municípios com menos de 5.000 habitantes foram os mais envelhecidos, enquanto aqueles entre 10.001 e 20.000 apresentaram maior proporção de idosos longevos. A Análise de Componentes Principais (ACP) identificou dois fatores: o primeiro, com MEDidpop, ISPFT e IDPI, explicou 70,04% da variância; o segundo, com IL, 25,56%.
Conclusões/Considerações
O estudo evidenciou desigualdades regionais e por porte populacional no envelhecimento e na longevidade da população idosa brasileira. Municípios mais envelhecidos e com maior longevidade demandam respostas diferenciadas na oferta, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade de serviços de saúde. A abordagem demográfica adotada, ao distinguir envelhecimento de longevidade, contribui para aprimorar as políticas públicas.
INSEGURANÇA ALIMENTAR EM DOMICÍLIOS CHEFIADOS POR IDOSOS NO BRASIL: INTERSECÇÕES DE GÊNERO E RAÇA/COR DA PELE
Comunicação Oral Curta
1 UFRJ
Apresentação/Introdução
A situação da Insegurança Alimentar (IA) em idosos compromete o acesso à alimentação somada às mudanças físicas, psicossociais e econômicas inerentes ao envelhecimento. Mesmo com políticas públicas específicas, a situação da fome e desigualdades sociais ainda são barreiras ao envelhecimento saudável.
Objetivos
Analisar a associação da IA, gênero e raça/cor da pele em domicílios chefiados por idosos nas regiões brasileiras.
Metodologia
Estudo transversal com os dados da Pesquisa Nacional de Amostras Domiciliares, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística durante o 4 trimestre de 2023. Selecionou-se os domicílios chefiados por idosos (≥60 anos) por região. IA aferida pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (Segurança Alimentar/SA e IA leve, moderada/grave). Criados perfis com a intersecção do gênero com a raça/cor do chefe do domicílio. Prevalências, intervalos de confiança de 95% e Razão do Risco Relativo (RRR) bruta analisadas no software STATA 16, considerando os respectivos pesos amostrais (comando ‘svy’). Estudo dispensa submissão ao Comitê de Ética.
Resultados
26,5% dos domicílios eram chefiados por idosos(n=54439), maioria dos domicílios estavam no Sudeste(46,6%) e chefiados por mulheres brancas (26,7%). Maior prevalência de homens(88,6%; IC95%87,1-90%) e mulheres (85,6%;IC95%84,1-87%) brancos em SA no Sul. Maior IA moderada/grave em mulheres pardas no Norte(20,8%; IC95%18,1-23,8%) e mulheres pretas no Nordeste(17%; IC95%14,4-20%). Comparadas aos demais perfis, a chefia feminina parda(RRR=3,8; IC95%3,4-4,5%) e preta(RRR=3,6; IC95%3-4,35%) foi mais associada à IA moderada/grave. Sul foi a RRR mais elevada quando comparadas às demais regiões para a mulher preta(RRR=4,1; IC95%2,3-7,2), enquanto no Sudeste foi a mulher parda(RRR=3,6; IC95%2,7-4,8).
Conclusões/Considerações
A IA em domicílios chefiados por idosos está relacionada à interseccionalidade, destacando a maior vulnerabilidade em mulheres negras em todo o território brasileiro. O perfil interseccional de gênero e raça/cor da pele expõe desafios para políticas públicas que visem combater a IA e promover o envelhecimento ativo e saudável no Brasil.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE SAÚDE DOS CUIDADORES E DAS CUIDADORAS SOCIAIS DE PESSOAS IDOSAS DO PROGRAMA MAIOR CUIDADO EM BELO HORIZONTE/MG
Comunicação Oral Curta
1 PBH
2 UFMG
Apresentação/Introdução
Diante do crescente envelhecimento populacional, BH/MG criou em 2011, o Programa Maior Cuidado - PMC. É uma iniciativa da Política de Assistência Social, integrada à Política de Saúde. Sua execução ocorre por meio da atuação de cuidadores e cuidadoras sociais, que prestam atendimento domiciliar a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social residentes em territórios de CRAS.
Objetivos
Caracterizar o perfil sociodemográfico dos cuidadores e das cuidadoras sociais de pessoas idosas, bem como suas condições de trabalho e os principais problemas de saúde por eles e por elas relatados.
Metodologia
Adotou-se uma abordagem quanti-qualitativa, com aplicação de questionário semiestruturado aos 169 cuidadores e cuidadoras sociais de pessoas idosas do PMC contratados(as) por meio de parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte – MG e o Grupo de Desenvolvimento Comunitário – GDECOM, este uma Organização da Sociedade Civil. Entre abril e maio de 2024, formulário on-line, utilizando-se da plataforma Google, foi encaminhado via e-mail dos participantes, cujos endereços eletrônicos foram informados pela Prefeitura. O estudo aprovado pelo Comitê de Ética da UFMG (CAAE 5.536.062) e a participação foi autorizada mediante leitura e assinatura de Termo de Compromisso Livre e Esclarecido - TCLE.
Resultados
O grupo respondente tem média de idade de 36 anos, predominância de mulheres cisgênero, pardas e pretas. A maioria possui ensino médio completo e tem filhos dependentes.
Cerca de 92% apontaram o PMC como principal fonte de renda. Quase 43% gastam entre 1 e 2 horas no deslocamento e 97,4% utilizam ônibus como meio de transporte. Raramente recebem ajuda dos familiares. A maioria atende pessoas idosas Dependente e Semidependente 2, o que exige maior esforço físico e mental.
Os principais problemas de saúde relatados foram hipertensão, dores musculares e ansiedade. Cerca de 38,3% se afastaram do trabalho por questões de saúde. Crises de ansiedade, depressão e dengue foram os principais motivos.
Conclusões/Considerações
Os trabalhadores do PMC são contratados por meio da terceirização, o que não assegura, por si só, condições adequadas de trabalho. A terceirização, distancia a contratante (PBH) da responsabilidade direta pela melhoria das condições de trabalho e de saúde, evidenciando a urgência de dispositivos contratuais que considerem esses aspectos como parte essencial da valorização da força de trabalho no âmbito da Política de Assistência Social.
SARCOPENIA E OBESIDADE ABDOMINAL: ASSOCIAÇÕES COM PADRÕES DE MULTIMORBIDADE EM PESSOAS IDOSAS DO ELSI-BRASIL
Comunicação Oral Curta
1 Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Universidade Federal de Santa Catarina, Araranguá, Santa Catarina, Brasil; Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
2 Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC). Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Santa Catarina.
3 Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Universidade Federal de Santa Catarina, Araranguá, Santa Catarina, Brasil.
4 Centro Universitário Santa Rita, Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, Brasil.
5 Núcleo de Estudos em Saúde Pública e Envelhecimento (NESPE) da Fundação Oswaldo Cruz - Minas e Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
6 Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de Santa Catarina, Araranguá, Santa Catarina, Brasil.
Apresentação/Introdução
O avanço da idade está associado a modificações fisiológicas e comportamentais que favorecem o desenvolvimento de condições crônicas como a sarcopenia e a obesidade. Tais condições podem ocorrer de forma isolada ou concomitante, influenciando de modo distinto a ocorrência de padrões específicos de morbidades e contribuindo para a perda da funcionalidade e da qualidade de vida em pessoas idosas.
Objetivos
Analisar as associações isoladas e concomitantes de sarcopenia e obesidade abdominal (OA) com os padrões de multimorbidade (cardiopulmonar, vascular-metabólico e musculoesquelético) em pessoas idosas brasileiras.
Metodologia
Estudo transversal com 4.501 idosos da segunda onda do Estudo ELSI-Brasil (2019-2021). A sarcopenia foi definida pela baixa força de preensão manual (<20,0kg/mulheres e <35,5kg/homens) concomitante à baixa velocidade da marcha (≤0,8m/s/ambos os sexos). A OA foi classificada pela circunferência da cintura ≥ 88 cm/mulheres e ≥102 cm/homens. Foram definidos 4 grupos: sem sarcopenia e sem OA; somente sarcopenia; somente OA; com sarcopenia e com OA. Os padrões de multimorbidade cardiopulmonar, vascular-metabólico e musculoesquelético foram definidos pelo autorrelato de ≥2 doenças do mesmo padrão. Foram realizadas regressões logística ajustadas para sexo, faixa etária e nível de atividade física.
Resultados
As análises ajustadas mostraram que pessoas idosas com OA isolada tiveram 2,13 vezes maiores chances de terem o padrão vascular-metabólico (intervalo de confiança de 95% [IC95%]: 1,65; 2,76) quando comparadas às que não tinham sarcopenia e OA. Já para aquelas com sarcopenia e OA conjuntamente as chances desse mesmo padrão foram ainda mais elevadas, sendo 2,47 vezes maiores (IC95%: 1,84; 3,31) em comparação àqueles sem ambas as condições. Não houve associações significativas entre as categorias da variável de exposição e os padrões cardiopulmonar e musculoesquelético.
Conclusões/Considerações
Concluiu-se que a OA isolada e concomitante à sarcopenia foram positivamente associadas ao padrão vascular-metabólico. Esses achados reforçam a importância de avaliar a OA, tanto isoladamente, quanto de forma conjunta com a sarcopenia em pessoas idosas, a fim de orientar estratégias preventivas e de manejo mais específicas para os distintos padrões de multimorbidade.
PNSPI - POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA: UMA ANÁLISE INTERSECCIONAL
Comunicação Oral Curta
1 UFRGS
Apresentação/Introdução
A PNSPI (2006) define diretrizes para garantir o direito à saúde integral dos idosos, alinhando ações do SUS. Mas será que contempla a diversidade dessa população? A interseccionalidade surge como ferramenta essencial para analisar políticas públicas, considerando os marcadores de desigualdade e promovendo justiça social de forma mais equitativa e responsável.
Objetivos
Analisar a PNSPI sob a perspectiva interseccional, a partir dos marcadores sociais da diferença, compreendendo em que medida contempla ou negligência as especificidades e as desigualdades enfrentadas por diferentes grupos de idosos.
Metodologia
Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa para analisar a Portaria N°2.2528/2006, que institui a PNSPI. O foco da análise é a interseccionalidade, examinando como diversos marcadores sociais da diferença se entrecruzam e influenciam a experiência do envelhecimento e o acesso às políticas de saúde. Para tanto, foram utilizadas palavras-chave específicas como "interseccionalidade", "gênero", "raça", "classe", "etnia", "orientação sexual", "deficiências" e "origem" como variáveis de busca na portaria. Posteriormente, estas variáveis foram analisadas, tanto na forma como estão descritas no texto normativo, quanto no contexto de sua aplicabilidade prática e suas implicações para os idosos.
Resultados
A análise revelou que o termo "gênero" aparece principalmente na seção 2.1, ao abordar o envelhecimento em contextos de desigualdade social e de gênero. "Origem" surge apenas em referência ao local de moradia (urbano/rural) e ao ambiente (familiar ou institucional). Já as questões que envolvem os marcadores de "raça", "etnia", "orientação sexual" e a palavra “interseccionalidade” não são mencionadas. Com relação à variável "classe", ela é tratada apenas de forma indireta, ligada às desigualdades e, relacionado a variável "deficiência" , a portaria trata como limitação funcional, não como uma categoria social.
Conclusões/Considerações
A construção da PNSPI utiliza-se de aspectos generalistas para pautar as suas diretrizes e nortear as práticas/ações para a população idosa. Diante desta invisibilidade, a Portaria reforça a visão de um Estado com características necropolíticas sem considerar as especificidades de sua população idosa. Assim, sugere-se na reformulação da política, uma atenção para esses marcadores sociais, garantindo os princípios constitucionais do SUS.
ATENÇÃO INTEGRAL ÀS PESSOAS IDOSAS RESIDENTES E ACOLHIDAS EM SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PÚBLICOS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Comunicação Oral Curta
1 SMS/PMSP
2 SMS / PMSP
3 SMS/ PMSP
Período de Realização
Início em 2018 após portaria Inter secretarial, permanece em contínua reavaliação e aprimoramento.
Objeto da experiência
Trata-se da implantação do Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (NASPI) nos serviços assistenciais de proteção especializada.
Objetivos
Qualificar a atenção à saúde das pessoas idosas vulneráveis acolhidas pelo SUAS, especialmente as instituições de longa permanência para idosos (ILPI) e Centros de Acolhida Especiais para Idosos (CAEI). Integrar a rede intersetorial à rede de atenção à saúde da pessoa idosa (RASPI).
Metodologia
Em 2024 foi publicada portaria secretarial regulamentando o NASPI como uma equipe da Unidade Básica de Saúde com atuação específica nas ILPI grau II e CAEI.
Cada equipe conta com enfermeiro e técnico de enfermagem desenvolvendo ações de promoção e educação em saúde e prevenção de agravos através de atendimentos individuais ou em grupo.
O NASPI também visa promover a integração entre as ILPI II e CAEI e a rede de atenção à saúde (RAS).
Resultados
Após a regulamentação do NASPI, observou-se maior apropriação da Unidade Básica de Saúde na gestão do cuidado dos residentes/acolhidos, melhora da comunicação e integração entre os serviços (incluindo a construção conjunta de planos de cuidados) e respaldo aos profissionais de Enfermagem que compõem o núcleo.
Ampliação do acesso dos residentes/acolhidos aos diversos pontos da RAS, garantindo continuidade da assistência e melhoria da gestão do cuidado continuado com enfoque na pessoa idosa.
Análise Crítica
Necessidade de aprimoramento das leis orgânicas do SUS e SUAS possibilitando melhor efetividade na integração das ações compartilhadas.
Percebeu-se urgência na regulamentação do profissional cuidador de idosos estabelecendo seu papel, favorecendo sua inclusão na rede de cuidados e respaldando a atuação integrada das diversas categorias profissionais envolvidas na gestão e execução do cuidado à pessoa idosa, considerando-se sua multidimensionalidade e seus diferentes níveis de complexidade.
Conclusões e/ou Recomendações
Apesar das divergências entre as legislações, percebeu-se melhoria do cuidado em saúde da população atendida, considerando o alto grau de vulnerabilidade.
A atuação do NASPI permite maior visibilidade dessa população e acesso aos pontos da RAS principalmente nas ações de reabilitação, consultas, oficinas e grupos, bem como na prevenção de agravos e/ou prevenção da piora de agravos instalados no processo de envelhecimento.
AGEÍSMO DIRECIONADO A PESSOAS IDOSAS EM SERVIÇOS DE SAÚDE: DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO
Comunicação Oral Curta
1 UEFS
2 Universidad Complutense de Madrid
3 UFRB
4 Centro Universitário João Pessoa
Apresentação/Introdução
Ageismo são estereótipos, preconceitos e discriminações relacionadas às pessoas mais velhas, ao envelhecimento e à velhice e pode ser originado em níveis individual e institucional. Conceito amplo, multidimensional e complexo, visto que envolve definições abstratas de outros conceitos subjacentes que não são quantificáveis e cujos limites não estão evidenciados na literatura.
Objetivos
Desenvolver o conceito de ageísmo direcionado a pessoas idosas em serviços de saúde.
Metodologia
Estudo teórico-metodológico, a partir do modelo híbrido de desenvolvimento do conceito, que possui três fases: teórica, cujo corpus de análise foi composto por 41 estudos, selecionados por meio de uma revisão de escopo; empírica, por meio de entrevista em profundidade, com profissionais de saúde e pessoas idosas em serviços de saúde e analisados por meio da análise temática reflexiva; fase analítica, com a integração das fases teórica e empírica. As três fases têm por objetivo identificar antecedentes, atributos e consequente do conceito. Todos os aspectos éticos da pesquisa foram observados.
Resultados
Os antecedentes do ageismo são: cultura, conhecimento científico insuficiente, escassez de evidência científica, sobrecarga de trabalho, inexperiência no convívio com pessoas idosas e falta de empatia. Os atributos: rotulação, desrespeito à autonomia, infantilização, desrespeito à privacidade e dignidade, descrédito das queixas, habilidades e capacidades, violação de direitos e comunicação inadequada. Os consequentes para pessoas idosas são discriminações de idade, desconfiança nos serviços de saúde, não adesão às condutas terapêuticas, impacto na qualidade de vida, sentimentos negativos e adoecimento mental, desesperança e impaciência.
Conclusões/Considerações
O desenvolvimento do conceito permite refinar o conceito e clarificar como o fenômeno se manifesta nos serviços de saúde. O estudo revelou que o ageismo afeta a qualidade do cuidado em saúde, a equidade e a dignidade das pessoas idosas e os mecanismos de enfrentamento perpassam por intervenções educativas, ampliação dos canais de comunicação e investimentos na formação e qualificação profissional.
PROFISSÕES QUE ATUAM NO CUIDADO DAS PESSOAS IDOSAS ACAMADAS NA ATENÇÃO DOMICILIAR: REVISÃO DE ESCOPO
Comunicação Oral Curta
1 FIOCRUZ AMAZONIA
2 Universidade Federal do Amazonas
Apresentação/Introdução
A condição de acamado embora seja pequena comparada a outros agravos, possui impacto significativo na população idosa, sendo 4,3% em 2019 de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde. A diversidade das profissões envolvidas no cuidado integral necessita de uma revisão visando conhecer as relações interprofissionais e reduzir as lacunas na assistência domiciliar.
Objetivos
Mapear a literatura existente sobre quais as categorias profissionais atuam no cuidado das pessoas idosas acamadas na Atenção Domiciliar (AD).
Metodologia
Revisão de escopo desenvolvida conforme metodologia do Joanna Briggs Institute, cujo protocolo está registrado com DOI 10.17605/OSF.IO/YTNM9. A busca foi realizada em cinco bases científicas e na literatura cinzenta. Elegíveis artigos originais, revisões e documentos institucionais que abordassem a temática e excluídos trabalhos de opinião, editoriais e documentos sem acesso ao texto completo. A seleção ocorreu em duas etapas: leitura dos títulos e resumos, seguida de leitura completa dos artigos selecionados, realizadas por dois revisores e os conflitos solucionados por terceiro revisor. A seleção do material foi realizada com software Rayyan. Os resultados foram analisados descritivamente.
Resultados
Identificados 3.058 estudos, dos quais 542 duplicados foram removidos, resultando em 2.516 rastreados por títulos e resumos. Destes, 177 foram selecionados para leitura integral e 16 incluídos na revisão. Os profissionais participantes foram: enfermeiro (n=12, 7%), dentista (n=5, 31,2%), médico e técnico em enfermagem (n=4, 2%) agente comunitário de saúde (n=3, 18,7%), nutricionista e assistente social (n=2 12,5%), fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, terapeuta físico, terapeuta social e técnico em saúde bucal foram citados em um estudo cada (6,2%). Dos 16 estudos, 7 (43,7%) apresentaram atuação multiprofissional, com média de três profissionais diferentes por estudo.
Conclusões/Considerações
A revisão identificou que o cuidado às pessoas idosas acamadas na AD envolve múltiplas categorias profissionais, com maior frequência de enfermeiros e dentistas. A presença da multiprofissionalidade indica um avanço importante para um atendimento integral e de qualidade. No entanto, a menor presença de outros profissionais pode indicar lacunas na atuação multiprofissional ou na produção científica sobre o tema.
O ACESSO DA PESSOA IDOSA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE: UM ESTADO DA ARTE
Comunicação Oral Curta
1 UEFS
Apresentação/Introdução
Conforme o censo de 2022, a população idosa brasileira representa 15,6% da população total, ampliando as demandas de saúde desse público. Estudos apontam que o acesso dos idosos ao Sistema Único de Saúde (SUS) é seletivo e excludente. Contudo, mesmo diante da relevância desta temática, ainda são insuficientes os estudos sobre o acesso da população idosa aos serviços de saúde do SUS.
Objetivos
Delinear um panorama dos estudos científicos publicados sobre o acesso da população idosa aos serviços de saúde.
Metodologia
Trata-se de um estado da arte cuja busca foi realizada em setembro de 2024, na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores/MeSH “Acesso aos serviços de saúde” e “idosos” e o operador booleano “AND”. Foram encontrados 14.742 resultados, os quais foram filtrados por texto completo em português, das bases de dados LILACS e MEDLINE, publicados nos últimos dez anos (2014-2024), cujos assuntos principais fossem “acessibilidade aos serviços de saúde”, “idoso” e “saúde do idoso”, o que resultou em 175 resultados. Porém a leitura dos títulos e análise dos resumos identificou-se em 14 artigos referentes ao objeto de estudo.
Resultados
Dos artigos analisados, sete investigaram os fatores associados ao acesso e utilização dos serviços pelos idosos; dois analisaram o acesso de grupos minoritários: indígenas e idosos com deficiência física; dois abordaram a temática em uma perspectiva mais teórica, consistindo em estudos de revisão; se debruçou especificamente sobre a acessibilidade geográfica; um sobre a acessibilidade em suas dimensões organizacional, sociocultural e econômica e o último abordou a acessibilidade a serviços de saúde bucal.
Conclusões/Considerações
Esses achados demonstram que o acesso dos idosos aos serviços de saúde segue sendo um tema pouco estudado pela comunidade científica. Considerando o quanto esse grupo populacional vem crescendo e o consequente aumento das demandas integrais de saúde dessa população, evidencia-se a necessidade de ampliação pesquisas nesta área.
FRAGILIDADE, INCAPACIDADE FUNCIONAL E MULTIMORBIDADE ENTRE INDIVÍDUOS COM 50 ANOS OU MAIS: ASSOCIAÇÃO COM O RISCO DE MORTALIDADE NO ESTUDO ELSI-BRASIL
Comunicação Oral Curta
1 Universidade Federal de Pelotas
2 Fundação Oswaldo Cruz - Instituto René Rachou
3 Universidade Federal de Minas Gerais
4 University of Illinois Urbana-Champaign
Apresentação/Introdução
Multimorbidade, fragilidade e incapacidade funcional são condições comuns em adultos mais velhos e se associam isoladamente a diversos desfechos negativos em saúde, incluindo mortalidade precoce. Não obstante, avaliar a associação entre essas exposições e o risco de mortalidade torna-se relevante para a adoção de políticas públicas, prática clínica e organização dos sistemas e serviços de saúde.
Objetivos
Analisar a associação entre multimorbidade, incapacidade funcional e fragilidade com o risco de mortalidade em indivíduos com 50 anos ou mais no Brasil.
Metodologia
Estudo de coorte com dados da linha de base (2015–2016) e da segunda onda (2019–2021) do ELSI-Brasil, com amostra representativa de brasileiros com 50 anos ou mais (n=9.412). O desfecho foi a mortalidade por todas as causas, identificada por procuradores e vínculo com o SIM. As exposições foram multimorbidade (≥2 morbidades), fragilidade (classificada em não frágil, pré-frágil e frágil segundo critérios adaptados de Fried) e incapacidade funcional (dificuldade em ≥1 atividade de vida diária), obtidas na linha de base. Foram aplicadas regressões de Cox para estimar Hazard Ratios (HR) brutos, ajustados por fatores sociodemográficos e comportamentais, e com ajuste mútuo entre as exposições.
Resultados
A prevalência de multimorbidade foi 62,4%, fragilidade 9,1% e incapacidade funcional 16,1%. Durante o seguimento médio de 5,1 anos, ocorreram 970 óbitos (10,3%). Após ajuste para fatores de confusão, a fragilidade (HR=3,31; IC95%: 2,30–4,76) e a incapacidade funcional (HR=1,65; IC95%: 1,23–2,21) associaram-se significativamente à mortalidade. A multimorbidade não apresentou associação estatisticamente significativa (HR=1,11; IC95%: 0,79–1,56). Após ajuste mútuo entre as exposições, os efeitos da fragilidade (HR=3,05) e da incapacidade (HR=1,39) permaneceram estatisticamente significativo. A multimorbidade manteve-se não significativa.
Conclusões/Considerações
A fragilidade e a incapacidade funcional foram identificadas como importantes fatores associados a mortalidade entre idosos brasileiros, ao contrário da multimorbidade. Esses achados reforçam a necessidade de priorizar a avaliação funcional e o rastreio precoce da fragilidade nos serviços de saúde ao invés do foco exclusivo no manejo das doenças, visando intervenções preventivas e a promoção do envelhecimento saudável.