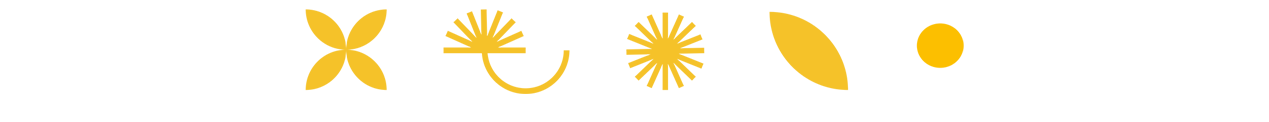
Programa - Comunicação Oral Curta - COC11.1 - Determinação Social e Condições de Saúde
01 DE DEZEMBRO | SEGUNDA-FEIRA
08:30 - 10:00
08:30 - 10:00
DESIGUALDADE EDUCACIONAL NO EDENTULISMO E NA DENTIÇÃO FUNCIONAL ENTRE IDOSOS BRASILEIROS — ESTUDO ABRANGENDO UM PERÍODO DE 20 ANOS
Comunicação Oral Curta
1 UFMG
Apresentação/Introdução
A perda dentária, grave problema de saúde pública mundial, compromete a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos afetados por ela, além de refletir iniquidades sociais persistentes, como aquelas relacionadas à educação. A educação está associada a comportamentos preventivos, acesso aos serviços e decisões em saúde, refletindo desigualdades acumuladas ao longo da vida, especialmente entre idosos.
Objetivos
Objetivou-se estimar a prevalência de edentulismo e da dentição funcional no Brasil e analisar as desigualdades educacionais destes desfechos entre idosos ao longo de vinte anos.
Metodologia
Este estudo analisou dados secundários de amostragem probabilística por conglomerados de indivíduos entre 65 e 74 anos, participantes dos inquéritos nacionais de saúde bucal (SB Brasil) de 2003, 2010 e 2023. A coleta foi realizada por entrevistas e exames, segundo critérios da OMS. O edentulismo (perda total de dentes) e a dentição funcional (≥21 dentes naturais) foram definidos pela contagem de dentes perdidos por cárie ou outras razões. A educação foi avaliada em anos de estudos (0-nenhum estudo, 1-4, 5-8, 9-11 e ≥12 anos). Estimaram-se os Índices Angular e de Iniquidade Relativa e Índice de Concentração, ajustados por idade e sexo. Termos de interação avaliaram mudanças entre os anos.
Resultados
O estudo analisou 5.347 idosos (2003), 7.509 (2010) e 9.720 (2023). A prevalência de edentulismo manteve-se estável entre 2003 (53,33%) e 2010 (53,38%), e reduziu para 36,47% em 2023. A prevalência de dentição funcional aumentou de 9,89% (2003) para 23,95% (2023). Os índices de desigualdade indicaram que o edentulismo permaneceu concentrado entre os grupos com menor escolaridade, evidenciado por SII negativo, RII <1 e CI negativo, todos apontando para o aumento das desigualdades entre 2003 e 2023. Quanto à dentição funcional, os valores positivos de SII, RII >1 e CI positivo refletiram maior prevalência entre os mais escolarizados, com crescimento significativo das desigualdades no período.
Conclusões/Considerações
Entre 2003 e 2023, houve avanços na saúde bucal de idosos brasileiros, com redução do edentulismo e aumento da dentição funcional. No entanto, as desigualdades educacionais persistem e se ampliaram, pois os benefícios foram maiores entre os mais escolarizados. Isso reforça a necessidade de políticas que enfrentem determinantes estruturais e promovam equidade no acesso e na qualidade dos cuidados odontológicos.
RACISMO: DETERMINANTE SOCIAL NO TRABALHO E NA SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL
Comunicação Oral Curta
1 ENSP
2 UFMG
3 EPSJV
Apresentação/Introdução
O racismo é um elemento intrínseco do capitalismo brasileiro e as desigualdades por ele produzidas se expressam na população negra a partir dos piores indicadores de trabalho, renda, violência, segurança alimentar, saúde, entre outros. Atuando sobre o conjunto dos determinantes sociais do processo saúde-doença, nos interessou saber como o racismo se manifestou no contexto de crise pandêmica.
Objetivos
Identificar desigualdades no acesso entre pessoas negras e brancas ao trabalho, à renda e à saúde durante a pandemia de Covid no Brasil, a partir da análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - COVID19 (PNAD COVID19).
Metodologia
Estudo transversal, teve como variável de desfecho a cor ou raça autodeclarada. Para fins de comparação e avaliação essa variável foi recategorizada em brancos e negros (pretos e pardos). A associação entre a raça/cor com as variáveis explicativas foi testada utilizando modelos de regressão logística brutos e ajustados. Nestes modelos, as razões de chances (Odds Ratio - OR) e seus respectivos intervalos de confiança foram estimados. Todas as análises foram realizadas no pacote STATA SE 18.0, considerando o peso amostral e nível de significância de 5%. Elegemos para análise os meses Julho e novembro, com 380.214 e 377.614 respondentes, em maioria negra 55,5% e 55,3%.
Resultados
Pessoas negras no mercado de trabalho: maiores chances de desocupação e desalento, estarem em empregos informais, realizarem atividades de maior exposição à Covid (serviços essenciais), jornadas de trabalho acima de 60h/semana e menores chances de realizarem trabalho remoto. Renda: maiores chances de receber até 1/2 ou 1 salário-mínimo e de serem beneficiárias do Auxílio Emergencial e do Programa Bolsa Família. Saúde: maiores chances de não ter realizado teste para Covid-19, cumprir o isolamento social em caso de resultado positivo, de terem acesso a itens básicos de higiene e biossegurança como álcool e água e sabão e de buscar atendimento em caso de sintomas gripais.
Conclusões/Considerações
A divisão racial e a superexploração da força de trabalho são marcantes e refletem os baixos salários e cargas horárias exaustivas aos quais a população negra é a principal exposta. A maior representatividade na informalidade e no desemprego comprova que esse grupo é o exército de reserva. Esse acúmulo de desvantagens entre as pessoas negras irá determinar seu processo saúde-doença.
A “ECONOMIA DO CUIDADO” E O TRABALHO “INVISÍVEL” NA DESIGUALDADE DE GÊNERO. O PERFIL BRASILEIRO
Comunicação Oral Curta
1 Observatório de Saúde no Trabalho - SESIRS
Apresentação/Introdução
A economia do cuidado se refere ao setor de atividade econômica que compreende os trabalhos transacionais no mercado em troca de uma renda monetária, mas também aqueles realizados sem a intermediação mercantil, ganhando destaque à medida que as sociedades enfrentam mudanças demográficas, amplificada pelo envelhecimento da população e o aumento da participação feminina na força de trabalho.
Objetivos
Determinar os condicionantes da quantidade de horas dedicadas a atividades de cuidado, considerando variáveis sexo, escolaridade, renda e idade, e calcular o custo monetário das horas dedicadas a atividades de cuidado não remuneradas pela população.
Metodologia
Utilizando microdados da PNAD Contínua 2022 (amostra: 380.928 domicílios), este estudo analisou o trabalho de cuidado não remunerado no Brasil. A metodologia empregou o pacote PNADcIBGE em R para tratamento dos dados, com ajuste de plano amostral complexo (função pnadc_design()). Foram estimadas horas de cuidado mediante variáveis VD4039/VD4049, valoradas em R$8,27/h (referência: salário médio de R$1.820,30). A análise incluiu regressão linear múltipla com controles para renda, escolaridade, sexo, idade, região e raça, além de interações entre sexo feminino e variáveis socioeconômicas. Testes de robustez (Breusch-Pagan, Huber-White) validaram os resultados.
Resultados
Análise da PNADc 2022 mostra que 54,9% dos 150 milhões de brasileiros que realizam cuidados não remunerados são mulheres, com disparidade de 9,95 horas semanais a mais que homens (p<0,001). Paradoxalmente, maior escolaridade aumenta em 3,77h o tempo dedicado, enquanto maior renda reduz em 3h - efeitos amplificados no gênero feminino. Regionalmente, o Nordeste apresenta a maior carga (vs. Sudeste). Economicamente, esse trabalho invisibilizado equivaleria a R$1,1 trilhão (10% do PIB), sendo R$755 bilhões gerados por mulheres. Os resultados revelam como variáveis socioeconômicas modulam diferencialmente a divisão sexual do trabalho, com impacto macroeconômico subestimado.
Conclusões/Considerações
Mulheres de alta renda dedicam 3h por semana a menos aos cuidados que homens na mesma faixa etária. Escolaridade não alivia carga para mulheres desempregadas. Políticas públicas como as do Uruguai e Colômbia mostram caminhos. No Brasil, a Política Nacional de Cuidados (2024) precisa de implementação regional e serviços fortalecidos. Reconhecer valor econômico do cuidado é crucial para reduzir desigualdade e promover desenvolvimento sustentável.
INADEQUAÇÃO DO CONTROLE PRÉ-NATAL NA VENEZUELA: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS
Comunicação Oral Curta
1 Instituto de Comunicação e Informação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Icict/Fiocruz)
2 Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela
Apresentação/Introdução
A Venezuela enfrenta aumento da mortalidade materna e fragilidade nos serviços de saúde. Com dados oficiais escassos, a Encuesta Nacional de Condiciones de Vida surge como fonte essencial para investigar a adequação do pré-natal, prática fundamental na prevenção de mortes maternas, especialmente em contextos de crise.
Objetivos
Estimar a prevalência de gestantes venezuelanas que tiveram um controle pré-natal inadequado, bem como identificar fatores sociodemográficos, econômicos e relativos à assistência pré-natal associados.
Metodologia
A “Encuesta Nacional de Condiciones de Vida” (ENCOVI, 2021) foi utilizada como fonte. A amostra incluiu mulheres residentes na Venezuela que tiveram filhos entre 09/02/2016 e 27/03/2020 (n=2.218). Considerou-se inadequado o controle pré-natal iniciado após o 3º mês de gestação ou com menos de 6 consultas ao total. Para identificar os fatores associados à inadequação foram realizadas análises brutas e ajustadas de razão de prevalência por modelos de regressão de Poisson com variância robusta.
Resultados
Identificou-se que 36,3% (IC95% 34,3-38,3) das mães tiveram controle inadequado, sendo 25% iniciando tardiamente e 28% com menos de 6 consultas. Na análise ajustada, características associadas foram: ter mais de 3 filhos (RP=1,22 IC95% 1,04-1,44) em comparação com quem não tinha outros filhos; estar em situação de extrema pobreza (RP=1,55 IC95% 1,22-1,97); e baixa escolaridade, com prevalência cerca de 2 vezes maior entre mulheres de menor nível educacional.
Conclusões/Considerações
Os achados expõem um dos invisibilizados desfechos da crise humanitária no país, contribuindo para a elucidação do aumento da mortalidade materna e infantil, e reforçando à importância do combate a política de desinformação vigente.
LINHA DO TEMPO DA ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS TRANS NO SUS: TRAJETÓRIA, AVANÇOS E RETROCESSOS DO PROGRAMA (2008–2025)
Comunicação Oral Curta
1 IAM/Fiocruz
Período de Realização
Novembro de 2024 a junho de 2025.
Objeto da produção
Sistematização dos marcos do programa federal de atenção à saúde de pessoas trans no SUS, no período de 2008 a 2025.
Objetivos
Sistematizar a trajetória da intervenção e subsidiar gestores do MS no planejamento, avaliação, reconstrução e fortalecimento do programa de saúde para a população trans.
Descrição da produção
A produção baseou-se em análise documental qualitativa de normativas federais, portarias, campanhas, discursos institucionais e registros de eventos relacionados à saúde de pessoas trans no SUS. Foram utilizados critérios de relevância política, normativa e histórica para seleção dos documentos, com organização cronológica e categorização temática a partir de marcos institucionais e contextos sociopolíticos.
Resultados
A linha do tempo identificou cinco fases da intervenção: I (até 2001) – patologização; II (2001–2008) – judicialização e institucionalização; III (2008–2016) – expansão e disputa normativa; IV (2016–2022) – retrocesso e congelamento; V (2023–2025) – retomada e proposta de reformulação do programa. A sistematização evidenciou avanços, fragilidades institucionais, disputas normativas e lacunas regulatórias que impactam a implementação da intervenção.
Análise crítica e impactos da produção
O relatório técnico preenche uma lacuna institucional ao consolidar a memória política da atenção à saúde das pessoas trans no SUS. A produção reforça a importância de registros sistemáticos em âmbito federal para o planejamento e a gestão estratégica, contribuindo para decisões técnicas baseadas em evidências e para o enfrentamento de práticas patologizantes ainda presentes. O impacto esperado é o fortalecimento do programa de atenção à saúde trans com base em equidade e direitos humanos.
Considerações finais
A sistematização histórico-política apresentada contribui para a consolidação de práticas institucionais mais inclusivas e sustentáveis. O reconhecimento da trajetória e de desafios enfrentados pela população trans no SUS é essencial para garantir o cuidado integral e equitativo. O relatório é um instrumento técnico e político para subsidiar a reformulação do programa e outras ações intersetoriais voltadas à promoção da saúde e da justiça social.
ELEMENTOS DE UMA TRANSIÇÃO RACIAL: ASPECTOS DA AUTODECLARAÇÃO DE RAÇA/COR DE PACIENTES ONCOLÓGICOS TRATADOS PELO SUS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Comunicação Oral Curta
1 MS/INCA e UFF/PEPGPS
Apresentação/Introdução
O estudo aborda o fenômeno da transição racial ou empardecimento, definido pela alteração na frequência relativa de sujeitos autodeclarados de raça/cor branca (decrescente) e parda (crescente), que se verifica nos microdados de autorização de procedimento de alta complexidade (Apac) de quimioterapia, realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos últimos 17 anos, no Estado do Rio de Janeiro (ERJ).
Objetivos
Categorizar quantitativamente e discutir o fenômeno da transição racial ou empardecimento percebido entre pacientes oncológicos tratados com quimioterapia pelo SUS no ERJ entre janeiro de 2008 e março de 2025.
Metodologia
O estudo é qualiquantitativo. Explora documentos públicos e um registro administrativo, Apac de quimioterapia, espécie do gênero instrumento de registro, mecanismo burocrático adotado no Brasil para oficialização do cuidado em saúde prestado pelo serviço público, com finalidade em custeio e controle. As Apacs carregam dados de pacientes, inclusive o quesito racial, segundo as categorias: branca, preta, parda, amarela ou indígena, ou a sua falta indicada pela opção 99, permitida até abril de 2023. Realizou-se um levantamento censitário mensal dos microdados de Apac de 2008 até 2024 e análise descritiva sobre os dados escolhidos, medindo-se a frequência das categorias de raça/cor.
Resultados
De janeiro/2008 e até dezembro/2024, verifica-se nas Apacs de quimioterapia tendência decrescente do percentual de indivíduos autodeclarados de raça/cor branca, com ápice de 60,98% em março/2009; em dezembro/2024 era da ordem de 38,38%. Já o percentual de pardos sai de 3,86% em janeiro/2008 e atinge 42,91% no fim de 2024. Desde abril/2022, o percentual de pardos (39,14%) é superior ao de brancos (37,08%). A população negra brasileira é composta pelos sujeitos de raça/cor preta ou parda. Sob essa consideração, a população negra superaria a branca no contexto sob comento em março de 2019, quando se afere 44,49% de negros e 43,56 de brancos. Ao fim de 2024, havia 58,81% no primeiro grupo.
Conclusões/Considerações
A transição racial na população de interesse foi quantitativamente categorizada. Duas hipóteses básicas explicativas para o fenômeno são: a) a conscientização racial de pacientes que se declaravam de raça/cor branca e passaram a se identificar como pardos, e b) a expansão da oferta de quimioterapias no ERJ enfraqueceu a estrutura racista que obstaculizava o acesso de negros à quimioterapia. O estudo é promissor, carece de variáveis explicativas.
AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL: OS DESAFIOS DA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL NO CURSO DE ODONTOLOGIA
Comunicação Oral Curta
1 UFRGS
Apresentação/Introdução
As ações afirmativas no Brasil são resultados da mobilização do Movimento Negro contra o racismo e as desigualdades estruturais. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a implementação das cotas iniciou em 2007, consolidando-se nacionalmente pela Lei 12.711/2012, democratizando o acesso ao ensino superior a negros e indígenas, historicamente excluídos por tratamentos desiguais.
Objetivos
Descrever as políticas de permanência estudantil para a formação em odontologia na UFRGS, bem como analisar os custos dos instrumentais odontológicos necessários ao longo da graduação e os investimentos financeiros realizados pela universidade.
Metodologia
Esta é uma pesquisa documental que utilizou as listas de instrumentais publicizadas no sítio eletrônico da Faculdade de Odontologia e os editais do Auxílio Material de Ensino (AME-Odonto) disponíveis no site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. As listas, disponíveis em planilhas do Excel, contém os nomes e quantidades de instrumentais necessários em cada semestre letivo e seus valores foram consultados, em sua maioria, no site da Dental RS. Os recursos disponibilizados pelo Auxílio Material de Ensino (AME-Odonto) são publicados semestralmente e indicam o valor recebido de cada estudante. Os dados foram baixados em formato pdf e transformados em planilhas do software Excel.
Resultados
Na UFRGS há duas políticas para permanência estudantil: o AME-Odonto iniciado em 2018 e o Banco de Empréstimos de Instrumentais (BEI), criado em 2022, que possui um acervo de 18 mil instrumentais e atendeu 180 acadêmicos emprestando 5 mil itens. A AME-Odonto disponibilizou R$1.709 mil em 13 semestres letivos, atendendo em média 54 estudantes por semestre. O custo com os instrumentos ultrapassa R$27 mil, dificultando a permanência de estudantes de baixa renda, principalmente os beneficiados por ações afirmativas de ingresso. As iniciativas mostraram um impacto positivo na democratização do ensino em um curso historicamente elitizado, reforçando a importância de ações afirmativas de permanência.
Conclusões/Considerações
Apesar das primeiras experiências com ações afirmativas na UFRGS, a consolidação do direito à permanência ainda enfrenta dificuldades significativas. O caso da Odontologia evidencia que políticas de apoio financeiro, como o AME-Odonto e o BEI, são fundamentais, mas insuficientes se isoladas. A continuidade e ampliação dessas iniciativas são urgentes para que a inclusão deixe de ser apenas simbólica e se transforme em trajetória acadêmica concluída.
DESIGUALDADES DETERMINADAS: DOENÇAS NEGLIGENCIADAS E OS DESAFIOS DA EQUIDADE EM SAÚDE NO SUDESTE BRASILEIRO NO CONTEXTO DO CIEDDS
Comunicação Oral Curta
1 Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - FIOCRUZ
2 Instituto de Doenças do Tórax - UFRJ e Policlínica Universitária Piquet Carneiro - UERJ
Apresentação/Introdução
As doenças negligenciadas são marcadores das iniquidades em saúde no Brasil, especialmente sob a lente da determinação social e das desigualdades regionais. Este estudo analisa padrões de adoecimento por HIV/AIDS, tuberculose, hepatites, sífilis e DTNs no Sudeste, com foco em cidades prioritárias do CIEDDS.
Objetivos
Analisar o perfil socioepidemiológico das doenças negligenciadas na região Sudeste a partir das desigualdades territoriais e fatores estruturais que impactam a vigilância e o cuidado em saúde.
Metodologia
A análise foi construída a partir de dados secundários públicos provenientes dos sistemas TabNet/DATASUS e SINAN, referentes ao período de 2022 a 2024, com base em um estudo ecológico, de série temporal. A unidade de análise compreende os estados da região Sudeste. Foram consideradas variáveis como raça/cor, faixa etária, sexo, território de residência e indicadores sociais compostos. A análise teve como objetivo identificar padrões de ocorrência, distribuição territorial dos agravos e suas associações com desigualdades estruturais. A delimitação territorial é fundamentada na presença de 175 cidades prioritárias contempladas pelo CIEDDS, em consonância com o Programa Brasil Saudável.
Resultados
A análise evidencia desigualdades intraurbanas, com concentração de doenças em territórios atravessados por racismo estrutural, exclusão socioespacial e precarização dos serviços públicos confirmando premissas do CIEDDS sobre insuficiência de acesso isolado aos tratamentos. A sobreposição de múltiplos agravos em áreas com baixos indicadores sociais reflete padrões estruturais de vulnerabilização. Entre os grupos mais afetados, a população negra com baixa escolaridade apresenta maior exposição à sífilis e ao HIV. A omissão recorrente da variável raça/cor nos registros oficiais compromete a construção de uma vigilância epidemiológica sensível à equidade.
Conclusões/Considerações
Apesar das limitações relacionadas à completude dos sistemas de notificação, os achados oferecem contribuições significativas para o fortalecimento das estratégias do CIEDDS e do Programa Brasil Saudável. Reforçando a urgência de ações intersetoriais e territorializadas que enfrentem, de forma estruturada e sensível, as doenças socialmente determinadas e as iniquidades em saúde, integradas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
(IN)VISIBILIDADE HISTÓRICA DE ENFERMEIRAS NEGRAS NO BRASIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Comunicação Oral Curta
1 SMS-Rio
2 FENF/UERJ
3 EEAN/UFRJ
4 IMS/UERJ; SMS-Rio
Apresentação/Introdução
A enfermagem brasileira é composta majoritariamente por mulheres negras. Apesar disso, essas profissionais seguem invisibilizadas nos registros históricos da profissão. O racismo estrutural sustenta estigmas e barreiras de acesso que afetam o reconhecimento, a valorização e a ascensão dessas enfermeiras no campo profissional e acadêmico.
Objetivos
Analisar a produção científica nacional sobre a representatividade histórica de enfermeiras negras e os efeitos do racismo estrutural na invisibilização de suas trajetórias na Enfermagem brasileira.
Metodologia
Trata-se de uma revisão integrativa com abordagem qualitativa, realizada entre setembro e dezembro de 2023. Utilizou-se a estratégia PICo para construir a pergunta norteadora e selecionaram-se estudos nas bases BDENF, LILACS, SciELO e IBECS, com os descritores “enfermeiras”, “enfermagem”, “racismo” e “história da enfermagem”. Após aplicação de critérios de inclusão e exclusão, nove publicações compuseram o corpus final. A análise foi orientada pelo método de análise de conteúdo de Bardin, resultando em duas categorias temáticas.
Resultados
A produção analisada revela a exclusão sistemática das enfermeiras negras da historiografia oficial da enfermagem. Os estudos evidenciam o protagonismo dessas mulheres no cuidado desde o período colonial, assim como seus impactos nas lutas por equidade, políticas públicas e saúde coletiva. Personagens como Maria Soldado, Maria Barbosa Fernandes e Mãe Stella de Oxóssi emergem como marcos de resistência e contribuição. A perpetuação da lógica racista institui barreiras educacionais, profissionais e simbólicas, reforçando o estigma e a desvalorização das enfermeiras negras.
Conclusões/Considerações
Dar visibilidade às trajetórias e contribuições de enfermeiras negras é um ato de justiça histórica e enfrentamento ao racismo estrutural. Resgatar suas memórias fortalece o pertencimento racial e profissional, inspira novas gerações e amplia as possibilidades de uma enfermagem antirracista, diversa e socialmente comprometida.
QUALIFICANDO O CUIDADO NA APS PARA CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA EXPERIÊNCIA FORMATIVA COM A LENTE DA EQUIDADE ÉTNICO-RACIAL
Comunicação Oral Curta
1 HIAE
Período de Realização
O projeto iniciou em abril de 2025, capacitação dos profissionais de setembro de 2025 a outubro 2026.
Objeto da experiência
Projeto no âmbito do PROADI-SUS “Manejo Clínico na APS”, com enfoque na promoção de equidade étnico-racial na saúde
Objetivos
Descrever a experiência de qualificação de multiplicadores da Atenção Primária à Saúde na gestão do cuidado de condições crônicas, com foco no desenvolvimento do raciocínio clínico, estratégias para o cuidado integrado e incorporação da perspectiva da equidade étnico-racial nas práticas de saúde.
Descrição da experiência
O MAPS propõe treinar até 30.000 profissionais da APS de 18 UF por meio de dois cursos: um para formação de multiplicadores e outro de atualização no manejo de condições crônicas. O primeiro se diferencia por conter módulos sobre educação de adultos. Serão utilizadas metodologias ativas, em sessões remotas e presenciais. A discussão sobre equidade étnico-racial permeou todos os módulos e materiais pedagógicos, reafirmando o compromisso com a construção de práticas antirracistas na APS.
Resultados
A interprofissionalidade constituiu-se como um dos pilares da experiência formativa, fomentando a colaboração entre diferentes saberes e práticas profissionais. Além de qualificar o manejo clínico, a proposta deixa como legado o fortalecimento da Educação Permanente, ao estimular processos contínuos de reflexão crítica, aprendizagem no trabalho e construção coletiva de estratégias para um cuidado integral, resolutivo e equitativo, com enfoque na frente a lente étnico-racial em especial.
Aprendizado e análise crítica
O Brasil enfrenta crescente demanda na APS e a metade reduzir a mortalidade materna em 25% até 2027. Desigualdades étnico-raciais são evidentes, com aumento de hipertensão gestacional e infecção puerperal entre mulheres pretas. Diabetes e agressões são causas de óbito relevantes para pretos e pardos. Diante desse cenário, o MAPS propõe a atualização de multiplicadores em APS para gestão de condições crônicas e saúde materna, visando aprimorar os desfechos clínicos, promovendo maior equidade.
Conclusões e/ou Recomendações
A equidade étnico-racial em formações na APS é essencial para qualificar o cuidado, fortalecer práticas antirracistas e promover justiça social. Ela deve atravessar todas as etapas do processo educativo. Recomenda-se a Educação Permanente interprofissional como pilar para reflexão crítica e construção coletiva. Gestores e trabalhadores do SUS devem reconhecer o enfrentamento ao racismo estrutural como eixo transversal.
PROMOÇÃO EM SAÚDE E PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES DO DIABETES MELLITUS: ABORDAGEM EDUCATIVA SOBRE O PÉ DIABÉTICO
Comunicação Oral Curta
1 FPP
Período de Realização
A ação foi realizada nos dias 28 de Abril e 26 de Maio de 2025.
Objeto da experiência
A prática de promoção da saúde e conscientização da comunidade sobre o Diabetes Mellitus, principalmente nos cuidados preventivos com o pé diabético.
Objetivos
Proporcionar aos acadêmicos a realização de promoção à saúde, integrando conhecimentos teóricos e práticos.
Conscientizar a população, de maneira didática, sobre o conhecimento a respeito das características da doença e seus impactos na qualidade de vida.
Identificar precocemente complicações do pé diabético.
Descrição da experiência
A ação de educação em saúde ocorreu em dois momentos com abordagem voltada ao Diabetes Mellitus em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). No primeiro, foi feita uma abordagem educativa com distribuição de panfletos. No segundo, dedicado ao Pé Diabético, realizou-se avaliação clínica, sensitiva, vascular e dermatológica dos usuários. Todos os participantes foram orientados quanto aos cuidados e os casos suspeitos foram encaminhados à equipe da UBS.
Resultados
No total foram impactados 38 usuários da UBS, sendo o público predominantemente feminino. A maioria possuía diagnóstico de DM e tinha interesse em discutir o autocuidado e suas dificuldades. Dos usuários participantes da ação do Pé Diabético (n=23), 75% relataram queixas compatíveis com neuropatia periférica e 50% apresentaram sensibilidade dolorosa reduzida nos pés. Os dados reforçam a importância da educação em saúde para prevenção, detecção e cuidado precoce de complicações da DM.
Aprendizado e análise crítica
A ação possibilitou aplicar na prática o princípio da longitudinalidade do cuidado da Atenção Primária à Saúde (APS), com continuidade do atendimento pelos mesmos acadêmicos nos dois dias. Percebeu-se que abordagens humanizadas favorecem a adesão e o impacto das orientações. Por outro lado, evidenciou-se fragilidade no cuidado contínuo de pacientes com DM, já que muitos, apesar do seguimento na UBS, nunca haviam recebido orientações sobre cuidados com os pés.
Conclusões e/ou Recomendações
A ação educativa realizada foi relevante tanto para os acadêmicos ao proporcionar a prática de técnicas aprendidas em aula, quanto para a educação em saúde dos pacientes. Ao abordar o Diabetes Mellitus, suas complicações e, especialmente, os cuidados relacionados ao pé diabético, foi possível promover a conscientização sobre a importância da prevenção, por meio de estratégias educativas acessíveis e fundamentadas em evidências científicas.
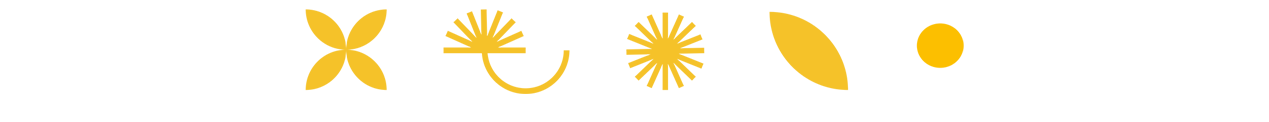
Realização:


Patrocínio:




Apoio:






