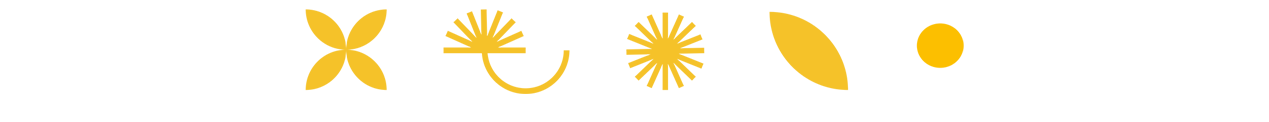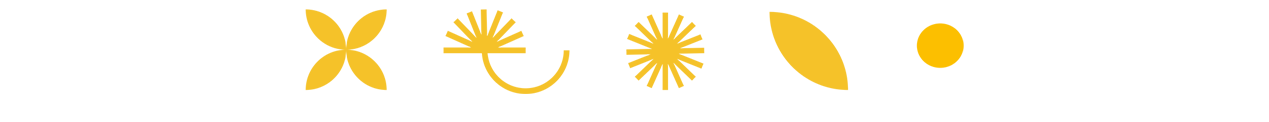Programa - Comunicação Oral Curta - COC34.4 - Imunizações e Sarampo
01 DE DEZEMBRO | SEGUNDA-FEIRA
08:30 - 10:00
CERTIFICAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE SOB GESTÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Comunicação Oral Curta
1 ICEPES
Período de Realização
A certificação foi iniciada em outubro de 2024, permanecendo até o momento atual.
Objeto da experiência
Implantação de Programa de Certificação para unidades de atenção primária à saúde (UAPS), gerenciadas pela Organização Social de Saúde (OSS).
Objetivos
Descrever o processo de implantação de um Programa de certificação para unidades de atenção primária à saúde, relacionado à imunização
Descrição da experiência
Por iniciativa da Coordenação de Vigilância e Saúde da OSS, a qual é responsável pela gestão de 40 UAPS, com objetivo de redução de danos e valorização profissional. Foi criado o programa de certificação das unidades que atendiam aos critérios estabelecidos, como administração de vitamina A, controle de perda de vacina através dos mapas de vacina, limpeza e temperatura da sala. Critérios avaliados, primeiramente, de 15 em 15 dias e depois no 1º dia útil após o fechamento da competência do mês.
Resultados
A primeira certificação ocorreu em outubro de 2024, com quatro unidades contempladas. Em abril de 2025 alcançou-se um total de 22 unidades, representando um aumento de 450%. Das 40 unidades avaliadas, duas receberam certificação em todos os meses. Mesmo as unidades que ainda não alcançaram a certificação demonstram melhoria progressiva no preenchimento dos dados. Os resultados observados incluem minimização de erros no preenchimento dos mapas de controle e maior acurácia dos dados.
Aprendizado e análise crítica
Verificou-se um aumento expressivo de unidades gerenciadas pela OSS certificadas ao longo dos meses, atingindo um total de 55% das UAPS. Não foram apontados desafios na implementação do processo de certificação. Ao contrário, as unidades expressaram entusiasmo em alcançar os critérios exigidos, sugerindo que a valorização institucional por meio do reconhecimento pode ser um incentivador de boas práticas. A resposta positiva das equipes reforça o potencial do modelo como estratégia replicável.
Conclusões e/ou Recomendações
O controle da imunização nas UAPS é essencial para a segurança dos usuários e uso eficiente dos recursos. A gestão adequada das vacinas evita perdas, falhas na cadeia de frio e erros na aplicação. A certificação valoriza as equipes, incentiva melhorias e reforça o compromisso com o cuidado à população.
EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO EM CRIANÇAS DE SANTARÉM-PA: RESULTADOS PRELIMINARES DO SI-PNI (2015-2020)
Comunicação Oral Curta
1 UFOPA
Apresentação/Introdução
A segurança vacinal é essencial na saúde pública, especialmente para crianças. Este estudo analisou Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV) em menores de 10 anos em Santarém-PA, utilizando dados do SI-PNI (2015-2020).
Objetivos
A pesquisa focou na caracterização desses eventos em um contexto amazônico, região que apresenta desafios singulares para a vigilância em saúde devido a fatores geográficos e sociais.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo que analisou dados secundários do SI-PNI, abrangendo todas as notificações de EAPV associadas ao calendário vacinal infantil. Embora o projeto original previsse a análise até 2024, os resultados aqui apresentados referem-se à primeira metade do período (2015-2020), devido a desafios operacionais na consolidação dos dados recentes. Ressalta-se, contudo, que esta análise parcial já permite identificar padrões epidemiologicamente relevantes para a Amazônia, sendo a completude dos dados reservada para publicações futuras.
Resultados
Foram identificados 38 casos de EAPV, com a seguinte distribuição: DTP/HB/Hib (21 casos; 55,3%), Tríplice viral (7 casos; 18,4%) e outras vacinas (10 casos; 26,3%). Os resultados demonstraram concordância com o perfil nacional de segurança vacinal, sendo a DTP/HB/Hib a imunização com maior frequência de notificações. A maioria dos eventos apresentou caráter leve (como febre e reações locais), corroborando o conhecido perfil de segurança desses imunobiológicos. Entretanto, a variação anual nas notificações sugere a necessidade de fortalecer a capacitação dos profissionais da Atenção Primária.
Conclusões/Considerações
Estes achados preliminares oferecem contribuições imediatas para a otimização dos sistemas de vigilância de EAPV na região amazônica, o direcionamento de ações específicas para as vacinas com maior frequência de eventos, e fundamentam a ampliação do estudo com a incorporação dos dados recentes (2021-2024), visando análises temporais mais abrangentes.
EXPERIÊNCIAS DA SALA DE SITUAÇÃO DE SARAMPO NO BRASIL E NO MÉXICO
Comunicação Oral Curta
1 DVS CAP 3.2/ SMS-Rio
2 PPGENF/UERJ
3 UERJ
4 Universidad Autonoma de Sinaloa - Mexico
Período de Realização
Realizado em 04 de junho de 2025 na Faculdade de Enfermagem da UERJ
Objeto da experiência
Vigilância do sarampo e cobertura vacinal no Brasil e no México
Objetivos
Compreender o cenário epidemiológico do sarampo no Brasil e no México. Debater a experiência vivenciada entre Brasil e México das ações de vigilância e imunização contra o sarampo
Descrição da experiência
Foi realizada uma “Oficina Internacional de Saberes: Experiências da Sala de Situação de Sarampo no Brasil e no México”, com o debate sobre as experiências dos casos de sarampo no Brasil e no México. Contou com a presença de palestrantes representando a vigilância do município e do Estado do Rio de Janeiro e uma palestrante do México, que demonstraram os indicadores relacionados a incidência do sarampo e a cobertura vacinal, debatendo as diferenças entre os dois países.
Resultados
O sarampo é um agravo que ainda representa um desafio para a saúde pública, apesar de ser um agravo imunoprevenível. O RJ apresenta incompletude da vacinação de Tríplice Viral, pois a 2° dose não alcança 95% de cobertura. A vigilância epidemiológica do sarampo é sensível e ativa, contando com acompanhamento dos casos suspeitos, comitês de monitoramento entre outros. Os dois casos de sarampo no México foram de crianças não vacinadas. Os dois países enfrentam o desafio pela desinformação.
Aprendizado e análise crítica
A reemergência do sarampo torna qualquer território como cenário de risco para a transmissão de casos novos. O debate das ações da Atenção Primária promove o aumento de coberturas vacinais, pois amplia a porta de entrada ao sistema de saúde e o acesso, proporcionando maiores oportunidades de vacinação e o resgate de indivíduos com esquemas incompletos. Em tempos de desinformação, com a difusão de fake news, a comunicação em saúde é um desafio que precisa ser enfrentado cotidianamente.
Conclusões e/ou Recomendações
Perder o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo para o Brasil não é algo impossível mediante a história pregressa e atual. Especialmente no campo da saúde, as redes sociais têm contribuído para proliferar a desinformação acerca de um recurso fundamental para a saúde que é a vacinação. Isto pode levar a uma ameaça em diversos países pelo fenômeno da hesitação vacinal.
IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NA COBERTURA VACINAL CONTRA O HPV EM MENINAS DE 9 A 14 ANOS NO ESTADO DE SÃO PAULO
Comunicação Oral Curta
1 UNISANTOS
Apresentação/Introdução
A pandemia de Covid-19 impactou negativamente a cobertura vacinal no Brasil, inclusive da vacina contra o HPV, essencial para a prevenção do câncer do colo do útero. A baixa adesão, já existente antes da pandemia, foi agravada pelas medidas de isolamento, medo da infecção, barreiras econômicas e de acesso aos serviços de saúde.
Objetivos
Analisar a cobertura vacinal da primeira e segunda dose da vacina contra o HPV em meninas de 9 a 14 anos no Estado de São Paulo, durante o período pandêmico de Covid-19.
Metodologia
Estudo ecológico de abordagem quantitativa, com dados secundários, públicos e anonimizados. As informações sobre as doses aplicadas (D1 e D2) foram extraídas do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações e do DATASUS. As estimativas populacionais foram obtidas na base TabNet. Foram calculadas as taxas de cobertura vacinal por município e para o estado. A análise descritiva incluiu medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio padrão, valores máximo e mínimo), avaliando o desempenho da cobertura vacinal nos anos de 2020 e 2021.
Resultados
Durante o período pandêmico, a cobertura vacinal média da primeira dose foi de 16,74%, com mediana de 15,92%, desvio padrão de 7,01%, mínimo de 0% e máximo de 59,62%. Para a segunda dose, a média foi de 14,42%, mediana de 13,39%, desvio padrão de 6,38%, mínimo de 0% e máximo de 47,37%. Apesar do ligeiro aumento em relação ao período pré-pandêmico, os dados mostram que a cobertura permaneceu muito abaixo da meta de 90% preconizada pela OMS. Observou-se queda expressiva na adesão à segunda dose em relação à primeira, com diferença estatisticamente significativa (Wilcoxon, p<0,001), indicando fragilidades na completude do esquema vacinal.
Conclusões/Considerações
A cobertura vacinal contra o HPV apresentou discreto aumento durante a pandemia, mas permaneceu abaixo da meta da OMS. A baixa adesão, especialmente à segunda dose, reforça desafios na proteção efetiva. É urgente fortalecer a busca ativa, ações educativas e retomar estratégias de vacinação para alcançar a meta de eliminação do câncer do colo do útero até 2030.
PERCEPÇÃO DE RISCO NÃO BASTA: A NOVA DINÂMICA DA DEPENDÊNCIA NICOTÍNICA NO BRASIL FRENTE AO ACESSO FACILITADO A DEFS – DADOS DO LENAD III (2023)
Comunicação Oral Curta
1 UNIFESP
2 São Camilo
3 UFES
Apresentação/Introdução
Apesar da ampla percepção de risco, jovens e usuários de DEFs demonstram menor consciência dos danos, favorecendo a renormalização do uso de nicotina. Embora o Brasil tenha um marco regulatório robusto, os dados do LENAD III revelam desafios emergentes, como o avanço dos DEFs, o uso dual e a persistência do tabagismo em grupos vulneráveis.
Objetivos
Investigar os padrões de consumo de nicotina (tabaco e DEF) no Brasil nas edições históricas, analisar a conversão de experimentação ao uso atual de DEFs e associações do consumo, percepção de risco e facilidade de acesso entre adolescentes.
Metodologia
O LENAD é um inquérito domiciliar com amostragem probabilística estratificada por conglomerados e representatividade nacional. Foi realizado em três edições: 2006 (N=3.007), 2012 (N=4.607) e 2023 (N=16.608), com indivíduos de 14 anos ou mais. A edição de 2023 investigou padrões de uso de substâncias psicoativas e transtornos mentais associados. As taxas de resposta foram de 57,5% no nível domiciliar e 89,9% entre participantes. As estimativas de prevalência e razões de chance foram ponderadas com base no Censo 2022 e analisadas no Stata 18, com o módulo svy, que ajusta para o desenho amostral complexo. Resultados apresentados com IC95%.
Resultados
A prevalência de uso atual de nicotina foi 15,5% (IC95%: 14,5–16,6), com 9,9% exclusivamente por cigarro, 3,7% por DEFs e 1,9% de uso dual. O tabagismo caiu quase 40% desde 2006 (19,3% para 11,7%). Entre adolescentes, 8,7% relataram uso de DEFs no último ano, e 76,3% mantiveram o uso após experimentação. Apesar de 92,4% reconhecerem os riscos do tabaco e 94,7% dos DEFs, a intenção de uso futuro é mais alta entre adolescentes (1,5% vs. 0,7%). O acesso aos DEFs é percebido como fácil ou muito fácil por 78,4% dos adultos e 71,6% dos menores, apontando fragilidade nas barreiras de controle.
Conclusões/Considerações
Apesar da queda no tabagismo, a nicotina segue como desafio sanitário, agora marcada pelo uso dual e avanço dos DEFs entre jovens. O consumo não foi eliminado, apenas transformado. A conversão precoce da experimentação em uso regular, aliada à menor percepção de risco e ao fácil acesso entre adolescentes, ameaça os avanços obtidos nas últimas décadas no controle do tabaco.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MORTALIDADE MATERNA NA ÁREA PROGRAMÁTICA 5.3 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 2017 A 2021
Comunicação Oral Curta
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
Apresentação/Introdução
A mortalidade materna representa um grave problema de saúde pública, que reflete os determinantes de saúde de cada região. De 2017 a 2021 foram notificados 372 óbitos maternos no Município do Rio de Janeiro. Destes, 46 (12,36%) ocorreram entre residentes da Área Programática 5.3.
Objetivos
Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico da mortalidade materna entre residentes da AP 5.3 no período de 2017 a 2021.
Metodologia
Metodologia: Estudo transversal, epidemiológico, retrospectivo, descritivo e com abordagem quantitativa no período de 2017 a 2021, sendo a população do estudo residentes da Área Programática 5.3 do Município do
Rio de Janeiro
Resultados
Mulheres de raça/cor negra totalizaram 80,5% dos óbitos maternos. Em 2019, AP 5.3 apresentou uma Razão de Mortalidade Materna (RMM) de 33,8. Em 2021 a área apresentou a maior RMM do MRJ, 233,2. A faixa etária que apresentou a maior proporção de mortes maternas foi de 30-39 anos (23,9%). Mulheres solteiras representaram 65,2% dos casos. O tipo de parto cesariana foi o mais frequente entre os óbitos maternos (56,5%). Entre as causas de morte materna, a infecção puerperal, as doenças do aparelho circulatório, a gravidez tubaria, os transtornos hipertensivos antes e durante a gestação, como a pré-eclâmpsia. A COVID-19 representou a principal causa de morte materna em 2020 e 2021.
Conclusões/Considerações
Os óbitos maternos ocorreram mais entre mulheres solteiras, negras, com idade reprodutiva, por causas indiretas e no puerpério. A investigação dos óbitos e a atuação dos Comitês de Mortalidade são estratégias importantes para a identificação dos principais problemas na assistência e contribuem na redução da mortalidade materna.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS, NO DISTRITO FEDERAL, DE 2020 A 2024
Comunicação Oral Curta
1 Fiocruz
2 Ministério da Saúde
3 Secretária de Saúde do Distrito Federal
Apresentação/Introdução
A análise do perfil epidemiológico da mortalidade por causas externas permite identificar causas predominantes, grupos de risco e padrões de distribuição. Esse estudo contribui para evidenciar desigualdades sociais que influenciam diretamente a ocorrência desses eventos e orientar políticas públicas de prevenção, especialmente em áreas urbanas com alta vulnerabilidade.
Objetivos
Analisar o perfil epidemiológico dos óbitos por causas externas ocorridos no Distrito Federal e descrever as variáveis epidemiológicas, que vão subsidiar a discussão sobre ações de saúde pública voltadas à redução desses indicadores.
Metodologia
Trata-se de um estudo epidemiológico observacional, descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa. Os dados de óbitos por causas externas, no período de 2020 a 2024, serão obtidos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde. Serão utilizadas as seguintes variáveis epidemiológicas: sexo, faixa etária, causa do óbito (classificada por capítulos da CID-10), escolaridade e raça/cor. Informações populacionais do IBGE e da Codeplan-DF também serão consideradas para complementar a análise com dados sociodemográficos e territoriais do Distrito Federal.
Resultados
A análise do perfil epidemiológico dos óbitos por causas externas ocorridos no Distrito Federal, entre 2020 e 2024, revelou que as agressões e os suicídios foram as principais causas, com predominância entre homens (74,77%) e na faixa etária de 30 a 39 anos (18,06%). As regiões administrativas de Ceilândia, Samambaia e Planaltina apresentaram os maiores coeficientes de mortalidade por causas externas. A desigualdade territorial foi evidente ao comparar essas regiões com áreas de maior renda e melhor infraestrutura, como Lago Sul e Jardim Botânico, evidenciando a relação entre vulnerabilidade social e maior risco de morte violenta
Conclusões/Considerações
Ao identificar os principais determinantes da mortalidade por causas externas no Distrito Federal, o estudo evidencia desigualdades estruturais no risco de morte violenta. Os achados reforçam a necessidade de estratégias intersetoriais de prevenção, políticas públicas direcionadas à juventude em vulnerabilidade e ações estruturantes que promovam justiça social e equidade territorial.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE EM SEIS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI, SEGUNDO DADOS DO SINAN, NO PERÍODO DE 2022 A 2025.
Comunicação Oral Curta
1 UFCA
2
Apresentação/Introdução
A tuberculose é uma doença causada pelo bacilo de Koch, que acomete principalmente os pulmões e se transmite pelo ar. Tem incidência associada à pobreza, desnutrição, HIV, com destaque em pessoas privadas de liberdade, situação de rua, e outras vulnerabilidades, dificultando a prevenção e o controle da doença, que é considerada um problema na saúde pública em países em desenvolvimento.
Objetivos
O objetivo do presente estudo foi de descrever o perfil e epidemiológico da tuberculose de seis municípios da região do Cariri utilizando dados secundários do SINAN.
Metodologia
Realizou-se um estudo epidemiológico ecológico retrospectivo, quantitativo e descritivo por dados coletados a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN NET), na plataforma do Banco de Dados Digitais do SUS (DATASUS), do período entre os anos de 2022 a 2025 na Coordenadoria da Área Descentralizada de Saúde (COADS) de Juazeiro do Norte/CE, que compreende seis municípios situados na Região do Cariri, sul do estado do Ceará. As variáveis analisadas foram: Município, prevalência, sexo, pessoa privada de liberdade, situação de rua, casos novos e reincidentes, e portadores de HIV/AIDS. A coleta foi realizada em junho de 2025, utilizando o Microsoft Excel © para análise.
Resultados
Os principais resultados encontrados no sistema SINAN NET com busca entre 2022 a 2025, foi prevalência de 36,5, sendo registrados 681 casos, dos quais 68,1% (464) ocorreram em indivíduos do sexo masculino e 31,9% (217) no sexo feminino. Entre os grupos populacionais vulneráveis, 4,6% (31) dos casos foram em pessoas privadas de liberdade e 2,3% (16) em situação de rua. A faixa etária com mais casos foi de 40 a 49 anos, representando 18,9% (129) das notificações. Além disso, 6,2% (42) dos pacientes eram portadores de HIV/AIDS. Quanto ao tipo de ocorrência, 83,1% (566) dos casos foram novos e 7,5% (51) reincidentes, independentemente da presença de outras condições associadas.
Conclusões/Considerações
Os dados reforçam a persistência da tuberculose como desafio de saúde pública nos municípios do Cariri. A predominância em homens, adultos de meia-idade, notou-se ainda a associação com HIV indicam a necessidade de estratégias específicas de prevenção, diagnóstico precoce e acesso ao tratamento. Em pessoas vulneráveis, é necessário uma intervenção direta e especifica voltada para diminuição dos casos.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES E ÓBITOS POR SINISTROS DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE NITERÓI (RJ), SEGUNDO DADOS DO SIH/SUS E SIM
Comunicação Oral Curta
1 UFF
Apresentação/Introdução
Os sinistros de trânsito configuram importante causa de morbimortalidade no Brasil. Em nível local, a análise de dados oficiais permite qualificar estratégias de prevenção. Este estudo descreve o perfil das internações e óbitos por sinistros de trânsito em Niterói (RJ), de 2015 a 2024, com base em sistemas de informação do SUS.
Objetivos
Descrever o perfil epidemiológico das internações e óbitos por sinistros de trânsito em Niterói (RJ) entre 2015 e 2024, utilizando dados do SIH/SUS e do SIM/DATASUS.
Metodologia
Trata-se de estudo descritivo com análise de dados secundários dos Sistemas de Informações Hospitalares (SIH/SUS) e de Mortalidade (SIM), referentes ao município de Niterói entre 2015 e 2024. Foram incluídas internações e óbitos por causas externas relacionadas a sinistros de trânsito, classificadas pela CID-10 (Capítulo XX). As categorias de vítimas analisadas foram: motociclistas, pedestres, ciclistas e ocupantes de automóvel. A análise contemplou frequência absoluta e distribuição por período, permitindo a identificação de grupos mais afetados e tendências temporais.
Resultados
Entre 2015 e 2024, foram registradas 9.203 internações por sinistros de trânsito ocorridos em Niterói, sendo 6.494 (70,6%) de motociclistas, 1.404 (15,3%) de pedestres e 588 (6,4%) de ciclistas. Em residentes de Niterói, houve 7.193 internações, com predomínio de motociclistas (4.746; 66,0%). No mesmo período, ocorreram 764 óbitos no município, com destaque para motociclistas (235 óbitos; 30,8%) e pedestres (225 óbitos; 29,4%). Entre os residentes, os óbitos totalizaram 655, com proporções semelhantes. Houve tendência de aumento das internações por motociclistas ao longo dos anos, especialmente a partir de 2019.
Conclusões/Considerações
Os sinistros de trânsito, sobretudo envolvendo motociclistas e pedestres, representam relevante carga de morbimortalidade em Niterói. A predominância de motociclistas entre os internados e óbitos reforça a necessidade de políticas públicas focadas nesse grupo. O uso dos sistemas SIH e SIM permitiu caracterizar o padrão local dos eventos e subsidiar estratégias educativas e de gestão no contexto do SUS.
PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS A REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA DE RASTREIO EM MULHERES COM 40 ANOS OU MAIS, PNS 2019
Comunicação Oral Curta
1 Faculdade São Leopoldo Mandic, Curso de Medicina, Campinas/SP
2 1 Faculdade São Leopoldo Mandic, Curso de Medicina, Campinas/SP 2Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas – Campinas/SP.
Apresentação/Introdução
Apesar de ser menos frequente, a incidência de câncer de mama em mulheres com menos de 40 anos vem aumentando. O Ministério da Saúde recomenda a mamografia para rastreamento do câncer de mama a cada dois anos para mulheres de 50 a 69 anos de idade (sem histórico familiar), mas a Sociedade Brasileira de Mastologia e outras entidades médicas defendem a realização a partir dos 40 anos.
Objetivos
Verificar a prevalência e as características sociodemográficas associadas a realização de mamografia de rastreio em mulheres com 40 anos ou mais no Brasil.
Metodologia
Estudo transversal com dados secundários de mulheres (idade ≥ 40 anos) que participaram da Pesquisa Nacional de Saúde 2019 e responderam se fez mamografia e quando foi a última vez que fez o exame (n=18.928). Foram estimadas as prevalências de realização da mamografia, acordo com as características sociodemográficas (considerando a realização até 2 anos ou há mais de 3 anos), com respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). As associações foram verificadas pelo teste Qui-Quadrado de Pearson com correção de Rao-Scott e nível de significância de 5%.
Resultados
A prevalência de realização de mamografia por mulheres com 40 anos ou mais foi de 94,5% e 84,3% tinha feito o último exame há até 2 anos. A realização dentro do período de até 2 anos foi mais frequente nas mulheres da área urbana (91,8%; IC95%:91,3-92,3), da região Sudeste (51,1%; IC95%:49,8-52,5), com idade de 50-59 anos (33,7%; IC95%:32,5-35,0), casadas (50,5%; IC95%:49,0-51,9), com ensino fundamental incompleto (33,6%; IC95%:32,2-35,0), sem plano de saúde (60,5%; IC95%:58,9-62,1) e autoavaliaram a saúde como boa/muito boa (57,6%; IC95%:56,1-59,0). Não houve diferença estatisticamente significativa em relação a raça/cor da pele e o tempo de realização da última mamografia (p > 0,05).
Conclusões/Considerações
A mamografia é uma das principais estratégias para o rastreio do câncer de mama e apresentou alta prevalência entre mulheres com 40 anos ou mais no Brasil. No entanto, existem diferenciais na realização do exame dentro do período recomendado, que indicam a importância de ações direcionadas para ampliar o acesso e promover a equidade na prevenção secundária e detecção precoce do câncer de mama.