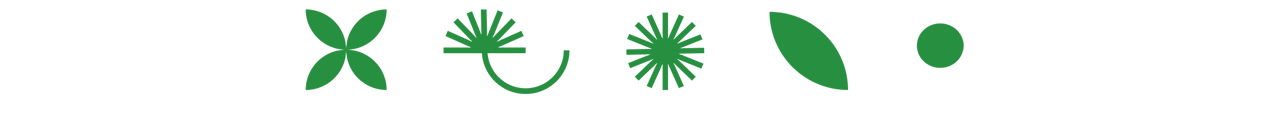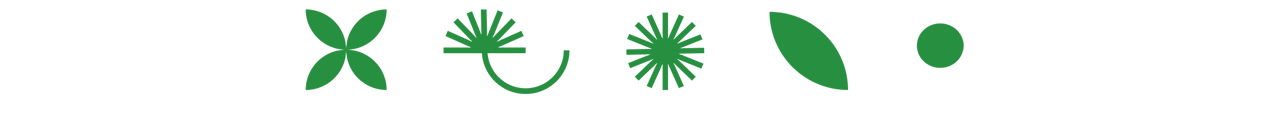Programa - Comunicação Oral Curta - COC5.10 - Vigilância em saúde na APS
01 DE DEZEMBRO | SEGUNDA-FEIRA
08:30 - 10:00
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA APS BRASILEIRA: CENSO NACIONAL DAS UBS DO SUS, 2024
Comunicação Oral Curta
1 Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde (Rede APS)/ Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
2 Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde (Rede APS)/ Universidade Federal da Bahia (UFBA)
3 Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde (Rede APS)/ Ensp/Fiocruz-RJ
4 SAPS/MS
5 Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde (Rede APS) / Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS)
Apresentação/Introdução
A vigilância epidemiológica (VE) é essencial para a identificação e controle de riscos e de agravos à saúde, subsidiando o planejamento da Atenção Primária à Saúde (APS). Publicada em 2018 pelo Conselho Nacional de Saúde, a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) fomenta a integração da VE com a APS, que esbarra em dificuldades e desigualdades de infraestrutura e de pessoal no SUS.
Objetivos
Caracterizar a realização de ações de vigilância epidemiológica nas UBS do país, por meio de notificação compulsória, monitoramento vacinal e investigações de doenças infecciosas e óbitos.
Metodologia
O Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde (UBS) foi realizado em 2024. No presente trabalho apresentamos os dados correspondentes ao universo de 44.937 UBS do país, com a seguinte distribuição pelas regiões: Norte (4.096), Nordeste (17.737), Sudeste (13.374), Sul (6.607) e Centro-Oeste (3.213). A coleta de dados foi realizada por instrumento eletrônico disponibilizado no sistema e-Gestor, respondido por um profissional responsável ou representante da UBS, após preenchimento de um termo de adesão. A análise descritiva foi realizada pelo R® e selecionamos perguntas do bloco de vigilância em saúde.
Resultados
As ações de VE na APS foram caracterizadas por meio de informações sobre notificação compulsória, monitoramento e investigações de doenças infecciosas e óbitos. Mais de 90% das UBS realizam a notificação compulsória de doenças e agravos e o monitoramento da situação vacinal. Mais de 80,0% das UBS referem a investigação epidemiológica de sífilis em usuários (82,5%), em gestantes (86,8%) e neonatal (81,2%). As investigações de óbitos maternos (77,9%) e infantis (79,3%) quase alcançaram 80% das UBS. As ações educativas (71,9%) e de identificação de áreas de risco (65,9%) foram as menos frequentes.
Conclusões/Considerações
A vigilância epidemiológica implantada nas UBS do SUS em todas as regiões geopolíticas do país. Em pelo menos 8 de cada 10 UBS havia menção de notificação compulsória, monitoramento vacinal e investigação de doenças transmissíveis e de óbitos, o que destaca positivamente a APS brasileira. Porém, é preciso universalizar ações de VE, superando subnotificações, submonitoramentos e não investigações, mas também as carências nas ações educativas e ambientais.
DESAFIOS PERSISTENTES PARA INTEGRAÇÃO ENTRE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA DA SAÚDE NO CONTROLE DA DENGUE
Comunicação Oral Curta
1 UFBA E REDE DE PESQUISA EM APS-ABRASCO
2 UFPEL E REDE DE PESQUISA EM APS-ABRASCO
Apresentação/Introdução
A integração entre a Atenção Primária à Saúde (APS) e a Vigilância em Saúde (VS) é considerada uma estratégia fundamental para aprimorar o cuidado e a prevenção de agravos, especialmente em contextos de vulnerabilidade social e sanitária.
Objetivos
Objetivou experiências de integração entre a VS e a APS no Brasil, no período de 2017 a 2025, identificando avanços operacionais e desafios persistentes.
Metodologia
Revisão de escopo, orientada pelas questões: como são caracterizadas as ações integradas entre a VS e as equipes de APS? Quais ações ainda são incipientes para suscitar integração dos processos de trabalho na APS? A string de pesquisa: (“Health Surveillance”[MeSH] OR “Epidemiological Surveillance”[MeSH] OR “Sanitary Surveillance”[MeSH] OR “Environmental Surveillance”[MeSH]) AND (“Primary Health Care”[MeSH] OR “Family Health Strategy” OR “Community Health”) AND (“Brazil”[MeSH] OR “Unified Health System” OR “SUS”) AND dengue AND (“2011/01/01”[Date – Publication] : “2024/12/31”[Date – Publication]), na Scielo, Lilacs e BVS Brasil, seguindo PRISMA-ScR, selecionando 17 artigos.
Resultados
As publicações analisadas revelaram experiências exitosas com ações integradas em visitas domiciliares, ações educativas e monitoramento de focos do vetor; uso de sistemas informatizados para registro e análise de dados epidemiológicos; delimitação mais precisa das áreas de risco, facilitando a tomada de decisões territorializadas e formação profissional. Os desafios em relação à micro-organização do processo de trabalho, para compartilhamento de informações no planejamento e execução das ações; sobreposição ou desarticulação das atividades realizadas por ACS e ACE e necessidade de redefinir atribuições e fortalecer a colaboração com educação permanente.
Conclusões/Considerações
Superar os desafios relacionados à escassez de recursos humanos, materiais e tecnológicos exige esforços coordenados para reduzir as desigualdades regionais que comprometem a capacidade de resposta dos sistemas de saúde locais. A estruturação de processos contínuos de monitoramento e avaliação é fundamental para consolidar um modelo de vigilância articulado à APS que seja efetivo e coerente com os princípios do SUS.
A EPIDEMIA DE DENGUE NO BRASIL E AS CARACTERÍSTICAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM 2024
Comunicação Oral Curta
1 CIDACS
2 UFBA
3 UFPel
Apresentação/Introdução
A dengue é um grave problema de saúde pública no Brasil, com impactos sociais e no SUS. A APS ordena e coordena o cuidado, mediante ações comunitárias de vigilância, prevenção e controle da doença. Porém, a epidemia de dengue e o controle do mosquito requerem sua integração com a Vigilância, com transformações estruturais e culturais, em processos de trabalho, gestão e formação profissional.
Objetivos
Descrever o panorama da distribuição da dengue no Brasil e as características relevantes da APS, oriundas do Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Sistema Único de Saúde (SUS) em 2024.
Metodologia
Este estudo utilizou a dengue como condição traçadora, com dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, considerando casos prováveis, graves e óbitos em 2024. Calculou-se o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes. Indicadores contextuais, como cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) e atuação dos agentes comunitários de saúde (ACS), foram obtidos do IEPS e da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019. As atividades de vigilância em saúde na APS e dos ACE foram analisadas a partir do Censo Nacional das UBS realizado em 2024, com dados de 44.938 unidades. A análise foi descritiva, com frequências estratificadas por Unidade da Federação, regiões e país.
Resultados
Em 2024, o Brasil registrou mais de 6,6 milhões de casos suspeitos de dengue e 6.264 óbitos. A epidemia se concentrou nos estados do Sudeste (SP, RJ, MG e ES), Sul (PR, SC e RS), DF e GO. O centro-sul do país, a região mais rica, foi responsável por 9 de cada 10 casos suspeitos, graves e óbitos por dengue no Brasil. As referidas UF, com exceção de MG e SC, apresentaram as menores coberturas de ESF e de ACS na rede básica de saúde brasileira, além de baixa vinculação com ACE e limitada oferta de testes rápidos. Menos de 80% das UBS realizavam controle de criadouros e ações educativas. A ausência de conselhos locais ativos e diagnósticos comunitários atuais agrava os desafios da APS.
Conclusões/Considerações
Os achados evidenciam a gravidade da epidemia de dengue em 2024 e a persistência de fragilidades na estrutura e nas ações da APS. O Brasil requer a manutenção e a ampliação de intervenção ambiental e de qualificação da APS para evitar novos ciclos epidêmicos. A universalização da ESF, sua integração com a vigilância e a maior participação comunitária são essenciais para o êxito no enfrentamento de outras emergências sanitárias em todo o país.
A EXPANSÃO NACIONAL DA PICAPS: VIGILÂNCIA CRÍTICA E INTELIGÊNCIA COOPERATIVA NA INTEGRAÇÃO ENTRE COMUNIDADE, SERVIÇO E ACADEMIA PARA TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS
Comunicação Oral Curta
1 Fiocruz Brasília
2 Universidade de Brasília
3 Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Período de Realização
De 2020 a 2025, com início no DF e posterior expansão para PE, PA, RS, MT e SP.
Objeto da experiência
Construção de uma plataforma de inteligência cooperativa com base na vigilância crítica e territorial, articulando saberes populares, técnicos e científicos.
Objetivos
Consolidar um ecossistema de inovação sociotécnica capaz de articular vigilância crítica em saúde, atenção primária e gestão comunitária dos territórios, promovendo a integração entre serviços públicos, universidades e coletivos sociais para o fortalecimento do SUS e da justiça territorial.
Descrição da experiência
A PICAPS foi criada em 2020 pela Fiocruz Brasília e UnB como resposta à pandemia de Covid-19. A plataforma estrutura-se em quatro eixos de inovação (social, educacional, em serviços e digital), com atuação inicial no DF. A partir de 2022, expande-se para outros cinco estados, mobilizando residentes, profissionais da APS, movimentos sociais e pesquisadores em ações de formação, escuta territorial, ativação de redes, produção de tecnologias sociais e mapeamento participativo dos territórios.
Resultados
Foram ativadas 17 redes sociais locais, com presença em 23 territórios do DF e implantação de núcleos estaduais em PE, PA, RS, MT e SP. Entre os resultados estão: criação de painéis digitais (como o Radar de Vacinação e o Painel de Gestão do Cuidado), formação de comitês populares, especializações em saúde e territórios, hackathon com startups em saúde digital e incorporação de tecnologias colaborativas na APS e na educação permanente.
Aprendizado e análise crítica
A PICAPS demonstrou que territórios saudáveis exigem ação intersetorial, escuta ativa e fortalecimento da comunidade. A vigilância crítica como prática política territorial permitiu produzir diagnósticos situados e respostas criativas às iniquidades. A integração entre saberes técnico-científicos e populares foi essencial, assim como a valorização da cogestão, do cuidado em rede e da transformação digital a partir das necessidades reais dos territórios.
Conclusões e/ou Recomendações
Recomenda-se institucionalizar a PICAPS como política pública de inovação socioterritorial em saúde. Sua replicabilidade depende de financiamento estável, apoio federativo, pactuação com universidades e protagonismo comunitário. A experiência reafirma que territórios saudáveis e solidários são construídos com inteligência coletiva, escuta política e tecnologias centradas nas pessoas e nos vínculos sociais.
COBERTURA DA VACINA TRÍPLICE VIRAL EM CRIANÇAS COM ATÉ 24 MESES DE IDADE: PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE , BRASIL, 2019
Comunicação Oral Curta
1 Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Apresentação/Introdução
A vacina tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola, e deve ser administrada a partir dos 12 meses de idade. Diante das desigualdades regionais, socioeconômicas e de acesso aos serviços de saúde no Brasil, a cobertura vacinal adequada ainda é um desafio. Conhecer os fatores associados a vacinação é fundamental para orientar políticas públicas e estratégias para aumento da vacinação.
Objetivos
Estimar a cobertura da vacina tríplice viral em crianças com idade ≤ 2 anos no Brasil e verificar os fatores associados.
Metodologia
Estudo transversal com dados de crianças com até 24 meses de idade, que participaram da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, e tinham a idade recomendada para receber a vacina tríplice viral no momento da entrevista (n = 1.940). Estimaram-se as prevalências de vacinação (esquema básico completo) e respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%), e os fatores independentemente associados à vacinação foram verificados pela regressão múltipla de Poisson com variância robusta.
Resultados
Entre as crianças estudadas, 80,8% residiam em área urbana, 52,4% eram do sexo feminino, 50% eram pardas, 84,3% não frequentavam escola ou creche, 74,1% possuíam renda domiciliar per capta de até 01 salário mínimo; 67,5% possuíam cadastro do domicílio na Unidade Saúde da Família e 45,1% receberam mensalmente a visita do Agente Comunitário de Saúde nos últimos 12 meses. A prevalência de vacinação tríplice viral foi de 43,1%; (IC95%: 40,0-46,2) e os fatores independentemente associados foram a região de residência e posse de plano de saúde. Menores coberturas no Norte e Centro-Oeste (27,5% e 28,8%, respectivamente) e maiores nas crianças com plano de saúde (49,5% versus 40,4%; p = 0,028).
Conclusões/Considerações
Os resultados deste estudo indicam uma baixa cobertura da vacina tríplice viral em crianças com até 2 anos de idade no Brasil (cobertura de aproximadamente 43%). Esses achados apontam para a necessidade de intensificação das estratégias de vacinação, especialmente nas regiões mais vulneráveis, e reforçam a importância do fortalecimento da atenção primária à saúde para o alcance de melhores coberturas e das políticas de equidade no acesso.
COBERTURA VACINAL CONTRA O PAPILOMAVÍRUS HUMANO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR REGIÕES DO BRASIL, 2018 A 2022
Comunicação Oral Curta
1 UCB
Apresentação/Introdução
Apesar da introdução da vacina quadrivalente contra o Papilomavírus Humano (HPV) no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2014 para combater a alta prevalência global da infecção, a cobertura vacinal no Brasil permanece abaixo da meta. Torna-se, portanto, essencial analisar a cobertura por regiões para desenvolver estratégias que melhorem a adesão e ampliem a proteção em crianças e adolescentes.
Objetivos
Analisar a cobertura vacinal contra o papilomavírus humano em crianças e adolescentes por regiões do Brasil, 2018 a 2022.
Metodologia
Estudo transversal que analisou a cobertura vacinal completa contra o HPV, entre 2018 e 2022, em 17.471.376 crianças e adolescentes de 9 a 14 anos das cinco regiões brasileiras, utilizando dados do DATASUS/SI-PNI e projeções do IBGE. Na análise da cobertura vacinal utilizou-se a metodologia preconizada pela Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS). A análise estatística, realizada por meio do Excel® e Jamovi®, incluiu comparações entre variáveis via Teste Qui-quadrado de Pearson, com nível de significância de 0,05. A pesquisa está em consonância com a Resolução n.º 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, sendo, portanto, dispensada de submissão ao CEP.
Resultados
A cobertura vacinal contra o HPV em 9.381.030 crianças e adolescentes de 9 a 14 anos revelou uma cobertura geral de 52,8%, sendo significativamente maior entre mulheres (60%) que entre homens (47%). A cobertura variou regionalmente de 46% (Norte) a 68,5% (Sul), com a região Sul apresentando os melhores índices para ambos os sexos, enquanto Norte e Nordeste registraram os menores. A análise por Unidade Federada reforçou essa disparidade, com estados como Paraná (homens 75,8%, mulheres 84,6%) se destacando positivamente, e Acre (homens 19,1%) negativamente. Houve uma preocupante tendência decrescente na cobertura geral de 73,8% em 2018 para 56,5% em 2022, mais acentuada entre os homens.
Conclusões/Considerações
O estudo confirma a maior adesão feminina à vacinação contra o HPV no Brasil, com o Sul se destacando frente aos menores resultados do Norte e Nordeste. A cobertura geral permanece abaixo da meta, e houve queda entre 2018-2022 em ambos os sexos, coincidindo com a pandemia de COVID-19 e desinformação. Apesar das limitações de dados, os resultados enfatizam a urgência de estratégias regionais e por gênero para otimizar a vacinação.
CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE VACINAÇÃO NA GESTAÇÃO: UMA ANÁLISE DOS FATORES ASSOCIADOS
Comunicação Oral Curta
1 UFSJ
2 IPB
3 SMS CANA VERDE
4 SMS
5 USP
Apresentação/Introdução
O período gestacional é uma fase de vulnerabilidade para a mulher. A vacinação materna tem a capacidade de proteger a gestante e resguardar o feto pela transferência placentária de anticorpos das doenças imunopreveníveis. O conhecimento dos profissionais de saúde acerca da vacinação da gestante é fundamental para promoção da adesão, e garantir elevada cobertura vacinal.
Objetivos
Analisar os fatores associados ao conhecimento dos profissionais de saúde sobre a vacinação de gestante.
Metodologia
Estudo epidemiológico, de caráter transversal analítico. Foram realizadas entrevistas utilizando um questionário validado, e os dados foram analisados por meio de testes de normalidade, testes comparativos, comparações múltiplas e modelos de regressão logística multinomial. Um total de 303 profissionais de saúde respondeu ao questionário, sendo 85 enfermeiros, 147 técnicos de enfermagem, 66 médicos generalistas e 5 médicos ginecologistas.
Resultados
Entre os participantes, 79% apresentaram um nível de conhecimento considerado “Bom”, enquanto 19% tiveram conhecimento “Moderado”, e 2% “Ruim”. O resultado do modelo de regressão logística binária mostrou significância nas variáveis “Autoconhecimento sobre vacinação da gestante” e “Quantos meses de experiência na atenção primária”. O aumento de 1 ponto na escala de autoavaliação de conhecimento (0 a 10) sobre vacinação de gestante, reduz a chance do participante pertencer ao grupo “Moderado” em 32,7% em comparação ao grupo “Bom”. A cada um mês de experiência na atenção primária, diminui a chance desse indivíduo pertencer ao grupo “Moderado” em 1,1% em comparação ao grupo “Bom”.
Conclusões/Considerações
A autopercepção positiva e maior tempo de experiência na atenção primária foram preditores significativos de melhor nível de conhecimento sobre a vacinação de gestantes.
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: PERCEPÇÕES E PLANEJAMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Comunicação Oral Curta
1 UFSM
Apresentação/Introdução
A capilaridade e territorialização da Atenção Primária a Saúde proporciona o cuidado integral dos indivíduos, bem como a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional. Devido a sua multifatorialidade, necessita-se um planejamento em saúde com robustez, articulado com diversos setores e profissionais engajados na execução de ações intersetoriais.
Objetivos
Analisar o planejamento de ações e as percepções dos profissionais de saúde referente a Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito da Atenção Primária à Saúde.
Metodologia
Pesquisa de métodos mistos com abordagem sequencial explanatória, realizada em 2023, com municípios que compõe a 20ª Região de Saúde/RS. Desenvolvida em duas fases: a primeira, quantitativa, foi composta por análise documental de 26 planos municipais de saúde através de índice de sensibilidade. Seis municípios foram selecionados, três com maior e três com menor índice de sensibilidade, para a segunda etapa, na qual foi realizada entrevista com profissionais coordenadores e nutricionistas da Atenção Primária à Saúde e utilizado análise de conteúdo para a categorização.
Resultados
Quatorze planos descreveram população rural maior que a urbana. Dentre as doenças crônicas, a hipertensão aparece com maior frequência em treze municípios. Todos os municípios indicaram a execução de programas de alimentação e nutrição. Identificaram-se fragilidades na inclusão de ações de alimentação e nutrição e segurança alimentar e nutricional. Independentemente do índice de sensibilidade, a maioria das ações não apresentaram confluência com as falas dos profissionais. A convergência entre o planejamento e execução das ações apresentam-se centradas na: atenção nutricional; promoção da alimentação adequada e saudável; vigilância alimentar e nutricional; intersetorialidade.
Conclusões/Considerações
Os planos municipais de saúde apresentam baixa intencionalidade de ações em Segurança Alimentar e Nutricional. Os profissionais possuem dificuldades de compreender sua amplitude, inferência no estado de saúde e incluir ações de alimentação e nutrição no cotidiano da Atenção Primária à Saúde. A presença de nutricionistas na elaboração de planos de saúde melhora a inclusão de metas e objetivos de alimentação e nutrição.
SIGNIFICADOS E CONEXÕES DA OBESIDADE NOS PMS: UMA ABORDAGEM COM IRAMUTEQ
Comunicação Oral Curta
1 UFMS
Apresentação/Introdução
A obesidade, apesar de sua relevância epidemiológica, é pouco estruturada como prioridade nas políticas públicas municipais. Este estudo empregou ferramentas de análise textual para explorar como o termo é tratado nos PMS de Mato Grosso do Sul. A abordagem via IRAMuTeQ permite compreender as conexões semânticas e os sentidos predominantes atribuídos à obesidade.
Objetivos
Analisar os segmentos dos PMS que mencionam obesidade e suas variações, identificando padrões semânticos, coocorrências e núcleos de sentido com auxílio das técnicas de análise CHD, Fatorial de Correspondência e Similitude no IRAMuTeQ.
Metodologia
Foram coletados 78 PMS (2022–2025), desses 41 PMS apresentaram contextos relacionados à obesidade. Os documentos foram organizados em um corpus textual único, com segmentação em Unidades de Contexto Iniciais (UCIs), cada município foi transformado em uma modalidade no corpus, os elementos não textuais foram retirados. A análise textual foi realizada com o software IRAMuTeQ, utilizando as técnicas de Classificação Hierárquica Descendente (CHD), Análise de Similitude e Análise Fatorial de Correspondência (AFC). As análises preservaram a integridade semântica dos textos, as configurações seguiram os parâmetros padrões recomendados para análise exploratória de conteúdo qualitativo.
Resultados
A análise mostrou que o termo “obesidade” é frequente nos PMS, mas com pouca ligação às metas ou ações concretas. A CHD identificou três classes: “estrutura do cuidado”, “promoção da saúde nas escolas” e “dados epidemiológicos”. A Similitude indicou fraca associação entre “obesidade” e termos como “meta” ou “indicador”, e maior com “promoção” e “saúde”, mostrando pouca resolutividade na questão . Conclui-se que o cuidado da obesidade é superficial, com ações voltadas na infância sem foco nos demais ciclos de vida, sendo tratada mais como um fator de risco do que como uma doença crônica grave que não tem a devida prioridade na organização e centralização das ações de cuidado.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que, embora mencionada, a obesidade não é tratada como eixo central nos PMS, com pouca articulação a ações e indicadores. O foco recai em ações genéricas e escolares, o que limita o cuidado integral. Destaca-se a necessidade de fortalecer o planejamento com análise situacional, indicadores nutricionais e definição de metas alinhadas à realidade local, aos sistemas de informação e à Linha de Cuidado para Sobrepeso e Obesidade (LCSO).
OFICINA “AGENTES EM AÇÃO”: MANEJO DA COQUELUCHE NO TERRITÓRIO.
Comunicação Oral Curta
1 Secretaria Estadual de Saúde do ERJ, Brasil.
Período de Realização
A Oficina foi realizada em dois encontros presenciais, nos dias 18/12/2024 e 14/01/2025.
Objeto da experiência
O objeto da experiência sendo também a denominação da oficina se designou em: “Agentes em ação: O manejo da Coqueluche no território”.
Objetivos
O principal objetivo foi promover a capacitação de profissionais de saúde na prevenção, diagnóstico precoce, manejo adequado e controle da coqueluche, contribuindo assim para a redução da incidência da doença e melhoria da saúde da comunidade.
Descrição da experiência
O presente relato traz a experiência exitosa de apoio institucional da Superintendência de Atenção Primária à Saúde (SUPAPS) da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Após notificação de óbitos por coqueluche no ERJ, foi elaborada em conjunto com o município de São Gonçalo uma Oficina de qualificação para os profissionais da ponta. Inicialmente, foi realizada uma apresentação teórica sobre o tema e após, foi realizada a divisão dos grupos para melhor performance da proposta.
Resultados
Após encerramento do primeiro quadrimestre de 2025, foi realizado um levantamento dos dados de cobertura vacinal do município, onde foi percebido um aumento significativo em contraste com o último quadrimestre de 2024. Observou-se ainda o percentual de diferença da média nas duas unidades, sendo respectivamente 225% e 8.3%; e a variação absoluta da média entre 2024 e 2025 nas duas unidades sendo 2.3 e 0.3.
Aprendizado e análise crítica
Pode-se refletir, portanto, quanto a importância crucial da capacitação contínua dos profissionais de saúde, aprimorando o conhecimento sobre a prevenção e manejo adequado da coqueluche. A educação continuada dos profissionais de saúde desempenha papel fundamental na atuação dos profissionais da atenção primária à saúde, pois permite a incorporação de novas evidências científicas e protocolos atualizados à prática clínica.
Conclusões e/ou Recomendações
Diante da capacidade de transmissão da doença e das possíveis complicações, especialmente em crianças, é essencial que os trabalhadores da saúde estejam preparados para reconhecer sinais precoces e garantir a promoção e prevenção da saúde com eficácia. Além disso, a atualização constante favorece uma atuação mais segura e embasada, fortalecendo a atenção primária e contribuindo para o controle de doenças no âmbito coletivo.