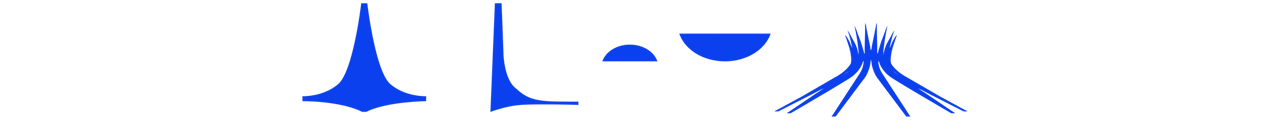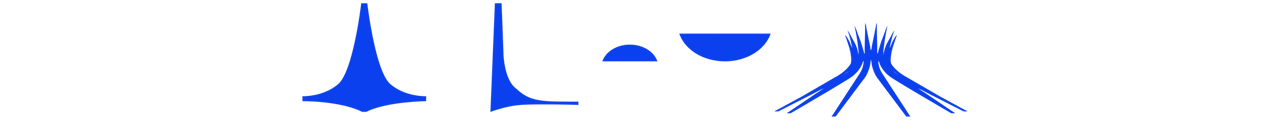Programa - Comunicação Oral - CO32.1 - Governança, Crises e Resistências: Perspectivas Globais e Locais para a Saúde Coletiva
30 DE NOVEMBRO | DOMINGO
15:00 - 16:30
DESAFIOS LINGUÍSTICOS NO SUS: EXPERIÊNCIAS DE IMIGRANTES HAITIANOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E A POTENCIALIDADE DAS TECNOLOGIAS DE INTERPRETAÇÃO
Comunicação Oral
1 Universidade Federal de Juiz de Fora
Apresentação/Introdução
Os imigrantes haitianos enfrentam obstáculos no SUS que expõem tensões entre o ideal universal do sistema e sua operacionalização prática. A barreira linguística emerge como tecnologia de exclusão, dificultando o direito à saúde e agravando desigualdades raciais, culturais e informacionais.
Objetivos
O objetivo principal desta pesquisa é descrever e analisar as perspectivas de imigrantes haitianos, residentes no Brasil, sobre a assistência à saúde oferecida pelo SUS, com foco nas barreiras linguísticas enfrentadas por essa população.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, compreendida como pesquisa social interpretativa, segundo Rosenthal e Gastaldo. A estratégia empírica principal da pesquisa consiste na realização de 20 entrevistas semiestruturadas com imigrantes haitianos adultos na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O referencial teórico para análise das entrevistas é a Análise Temática Reflexiva de Braun e Clarke, articulada à literatura sobre tecnologias leves em saúde e antropologia das migrações e deslocamentos, com foco em aspectos linguísticos e em como ferramentas de interpretação podem mitigar barreiras comunicacionais. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFJF.
Resultados
Os resultados iniciais indicam que as barreiras linguísticas experimentadas pelos participantes evidenciam graves desigualdades. Mulheres haitianas narram maior dificuldade em aprender a língua portuguesa, com relatos frequentes de terem seus sofrimentos físicos e emocionais não compreendidos ou mal interpretados. A presença de pessoas conhecidas, atuando como mediadoras linguísticas, e de tecnologias de tradução instantânea, segundo os relatos, abrem caminho para atendimentos mais dialógicos, com detalhamento das experiências dos participantes e orientações mais compreensíveis sobre o tratamento e seguimento terapêutico.
Conclusões/Considerações
A mediação linguística, compreendida como tecnologia leve, pode ser ampliada com uso de tecnologias de tradução e práticas acolhedoras. Incorporar os saberes dos imigrantes às políticas públicas contribui para um SUS mais equitativo, antirracista e culturalmente responsivo.
DESREGULAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM SAÚDE E GOVERNANÇA GLOBAL: DESAFIOS ÉTICOS, REGULATÓRIOS E DE DIREITOS HUMANOS
Comunicação Oral
1 Fiocruz
Apresentação/Introdução
A saúde digital tem se expandido com rapidez, impulsionada por IA e big data. No entanto, a ausência de regulamentação robusta e a prevalência de interesses comerciais geram riscos significativos à equidade, à ética e aos direitos humanos. Este trabalho analisa os desafios da desregulação e propõe caminhos para uma governança global justa.
Objetivos
Analisar os riscos da desregulação da IA em saúde e propor diretrizes para uma governança global centrada nos direitos humanos e na equidade.
Metodologia
Foi realizada uma análise qualitativa e documental baseada em literatura científica, diretrizes da OMS, relatórios institucionais e casos emblemáticos de violações de direitos. O estudo adota uma perspectiva crítica de saúde global, com foco em desigualdades estruturais e impactos da ausência de regulamentação. Também são examinadas iniciativas internacionais, como o AI Act da União Europeia e o "Pact for the Future" da ONU.
Resultados
O estudo revelou que a desregulação da IA em saúde facilita práticas discriminatórias, como algoritmos que priorizam pacientes brancos e o uso indevido de dados sensíveis. Casos como o IBM Watson e BetterHelp ilustram riscos à segurança e privacidade. A fragmentação normativa favorece corporações e agrava desigualdades. Iniciativas da OMS e do Conselho da Europa demonstram caminhos para governança centrada no ser humano, mas enfrentam resistência de setores econômicos.
Conclusões/Considerações
É urgente estabelecer uma governança global da IA em saúde que promova equidade, transparência e responsabilidade. A regulamentação deve incluir avaliações de impacto ético, auditorias de algoritmos e mecanismos de contestação. Propostas como o AI Act, o Global Digital Compact e a taxação de Big Techs representam caminhos viáveis para proteger direitos e fortalecer a saúde pública.
EXPERIÊNCIAS DE PACIENTES E SEUS FAMILIARES DURANTE A BUSCA POR CUIDADOS FRENTE AO COLAPSO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MANAUS
Comunicação Oral
1 UFMA
Apresentação/Introdução
Em Manaus, o colapso do sistema de saúde expressou uma situação dramática em termos sanitários e humanitários. Para mitigar os danos foi instituída uma “força tarefa”. Pacientes foram transportados, por via aérea, e o Hospital Universitário, situado em São Luís (MA), foi um dos destinos. A partir das experiências de pacientes e familiares foi possível perceber articulações na busca por cuidados.
Objetivos
Analisar a perspectiva de pacientes e de seus familiares acerca de itinerários terapêuticos e experiência de adoecimento em situação de colapso do sistema de saúde.
Metodologia
Pesquisa qualitativa, do tipo exploratória. Os conceitos de itinerário terapêutico, itineração e experiência de adoecimento foram utilizados para a análise fenomenológica. A amostra foi, por exaustão, composta de 12 pacientes e 10 familiares. Para a coleta de dados foram utilizados dois instrumentos: questionário com características sociodemográficas e roteiro de entrevista semiestruturado, com questões relacionadas à: percepção do adoecimento, estratégias na busca por cuidados, experiência na assistência hospitalar em Manaus e em São Luís e o retorno para casa. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUUFMA e os entrevistados foram identificados por nomes fictícios.
Resultados
Dos 12 pacientes entrevistados, seis eram homens e seis mulheres. Dez tinham idade igual ou superior a 50 anos. A maioria dos familiares entrevistados era de mulheres com diferentes relações de parentesco, como irmãs, filha, neta e esposas. A análise das entrevistas com base nos conceitos de itineração e experiência resultou na seguinte estruturação do artigo: Percepção do adoecimento e estratégias iniciais; Medidas globais e locais: dilema farmacológico; Diante do colapso do sistema de saúde; Manaus como "campo de guerra”; Transferência: uma questão de vida ou morte; São Luís: acolhimento e gratidão; Retorno para casa: emoções contraditórias.
Conclusões/Considerações
A doença e as aflições possibilitaram o acesso às tramas que marcaram desde as estratégias de pacientes e familiares em busca de assistência até os efeitos da gestão ambivalente do Estado. O cuidado como uma categoria situacional pretende abarcar ações mais fluidas, incluindo processos de saúde e doença, itinerários, percepções, mobilizações por parte de usuários, familiares e profissionais, levando em conta o caráter político e moral do cuidado.
PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À DESESPERANÇA E DEPRESSÃO EM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DE UMA CAPITAL BRASILEIRA
Comunicação Oral
1 Faculdade de Enfermagem – Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG)
2 Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública – Universidade Federal de Goiás (IPTSP/UFG)
Apresentação/Introdução
Pessoas em situação de rua (PSR) vivenciam vulnerabilidades que afetam diretamente sua saúde mental. Entre os principais agravos estão a desesperança e a depressão, ambos com importantes implicações no risco de suicídio e exclusão social. A investigação dessas condições é fundamental para subsidiar políticas públicas mais eficazes e humanizadas.
Objetivos
Estimar a prevalência e os fatores associados à desesperança e aos sintomas depressivos moderados a graves em pessoas em situação de rua em uma capital do Centro-Oeste brasileiro.
Metodologia
Estudo transversal, analítico e quantitativo, realizado entre 2018 e 2019 em dois serviços públicos de acolhimento em Goiânia-GO (CAC e Centro Pop). Amostra por conveniência com 132 indivíduos adultos em situação de rua. Os instrumentos utilizados foram: questionário sociodemográfico, Inventário de Depressão de Beck (BDI) e Escala de Desesperança de Beck (BHS). Os dados foram analisados por estatística descritiva e regressão de Poisson com variância robusta para estimar razões de prevalência (RP). Correlação entre variáveis foi estimada por Spearman. Ética aprovada por CEP/UFG, Protocolo 045/2013.
Resultados
A média de idade foi 37,4 anos, 78,8% eram homens, 54,5% pardos e 56,8% com menos de 8 anos de estudo. A prevalência de sintomas depressivos moderados a graves foi de 49,2%, maior entre mulheres (64,3%) e pessoas homo/bissexuais (85,7%). A religião mostrou efeito protetor (RPaj: 0,68) e a orientação sexual diversa foi fator de risco (RPaj: 1,89). Desesperança moderada/grave esteve presente em 24,2%, associada a sexo feminino (RPaj: 2,32), uso de crack (RPaj: 2,54), escolaridade mais alta e menor entre tabagistas (RPaj: 0,48). Houve correlação positiva entre BDI e BHS (r = 0,525; p < 0,001), indicando associação entre desesperança e sintomatologia depressiva.
Conclusões/Considerações
Os achados revelam alto índice de sofrimento psíquico entre PSR, com destaque para mulheres, LGBTQIA+ e usuários de substâncias. A associação entre desesperança e depressão reforça a urgência de políticas públicas intersetoriais focadas em saúde mental, inclusão social e redução das desigualdades.
RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA NO BRASIL: INVISIBILIDADE POLÍTICA, DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES DA SAÚDE COLETIVA PARA A AÇÃO NO SUS
Comunicação Oral
1 FGV/EAESP
Apresentação/Introdução
A resistência antimicrobiana é uma das principais ameaças à saúde pública global, com impactos crescentes na morbimortalidade e profundas implicações para os sistemas de saúde. No Brasil, apesar da formulação do Plano de Ação Nacional (PAN-BR), a RAM segue com baixa visibilidade na agenda política e na prática cotidiana dos serviços de saúde.
Objetivos
Analisar os desafios para a construção da resposta brasileira à RAM diante das diretrizes globais e dos princípios do SUS, identificando entraves à sua implementação.
Metodologia
A pesquisa adota abordagem qualitativa, articulando revisão de literatura, análise documental e entrevistas semiestruturadas com gestores, especialistas no tema e profissionais das esferas federal, estadual e municipal. A investigação está estruturada em dois eixos principais: (i) análise da adesão do Brasil às diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), com foco na construção de uma agenda governamental nacional a partir do Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da RAM (PAN-BR); (ii) identificação das barreiras estruturais, políticas e de governança para a implementação da estratégia nacional e de ações articuladas no SUS.
Resultados
O PAN-BR foi fortemente influenciado por demandas da OMS, configurando a RAM como agenda internacional. Apesar da relevância, o tema adquiriu baixa legitimidade e pouco engajamento político no país, com participação social limitada, dificultando consenso e impedindo o fortalecimento de uma coalizão. A RAM é vista como problema técnico e biomédico, com poucos estudos sobre seus impactos clínicos, sociais e econômicos. Isso reforça sua baixa prioridade política e orçamentária. A adesão à OMS ocorreu com pouca articulação federativa, gerando fragmentação e ausência de coordenação contínua, além de falta de financiamento estruturado e instabilidade por mudanças de gestão e crises sanitárias.
Conclusões/Considerações
A RAM é tema de baixa saliência política no Brasil, marcada pela fragmentação e falta de coalizão forte. Isso limita a capacidade do PAN-BR de promover políticas integradas. O campo da saúde coletiva é fundamental para a compreensão do processo de determinação social da RAM e para a construção de respostas que articulem a multiplicidade de atores de forma interdisciplinar, intersetorial e participativa, alinhadas aos princípios e diretrizes do SUS.
RESPOSTAS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DOS BRICS À COVID-19: UMA REVISÃO DE ESCOPO
Comunicação Oral
1 ENSP/FIOCRUZ
2 UEL-PR
3 Université Paris Cité
Apresentação/Introdução
A pandemia de COVID-19 expôs as desigualdades estruturais e a capacidade diferenciada dos sistemas de saúde dos países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) em responder à crise. Embora compartilhem desafios como subfinanciamento e vulnerabilidades sociais, suas respostas divergiram em governança operacional e efetividade das intervenções adotadas por seus sistemas de saúde.
Objetivos
Este estudo teve como objetivo analisar a resposta dos sistemas de saúde do BRICS à COVID-19, com foco na organização da rede de serviços, incluindo atenção primária e hospitalar, bem como seus impactos sobre as desigualdades estruturais.
Metodologia
Realizou-se uma análise comparada da resposta dos sistemas de saúde dos países BRICS à covid-19, a partir do protocolo de revisão de escopo 'Governança e respostas dos sistemas de saúde à COVID-19 nos países do BRICS', registrado na Open Science Framework.
A revisão de escopo foi orientada pelas diretrizes da JBI. A busca foi realizada em seis bases, sendo recuperados 3.501 manuscritos. Aplicados os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 257 manuscritos publicados entre 2020 e 2024.
Foi feita análise descritiva e categorial, considerando: atenção primária; atenção hospitalar; aspectos relacionados à gestão da pandemia no sistema de saúde; e implicações das desigualdades.
Resultados
As respostas dos sistemas de saúde do BRICS tiveram aspectos comuns e diferenças. Todos os países investiram inicialmente na atenção hospitalar. A atenção primária foi progressivamente assumindo papel importante na vigilância epidemiológica.
A revisão de escopo mostrou que recursos digitais foram amplamente utilizados nos sistemas de saúde da China e Rússia. Brasil e Índia destacaram-se pelo papel dos agentes comunitários. Na África do Sul, a forte presença do setor privado impôs desafios à gestão da pandemia.
Desigualdades estruturais impactaram o acesso a testes diagnósticos e vacinas. Quanto maior a vulnerabilidade social, maior a incidência e/ou letalidade.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que a efetividade das respostas à pandemia nos BRICS foi condicionada pela capacidade de integrar atenção primária e hospitalar, superar desigualdades estruturais e garantir coordenação governamental. Os resultados destacam a urgência de fortalecer sistemas universais de saúde e políticas sociais integradas para futuras crises sanitárias.