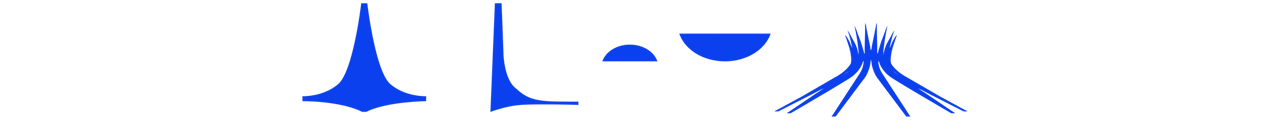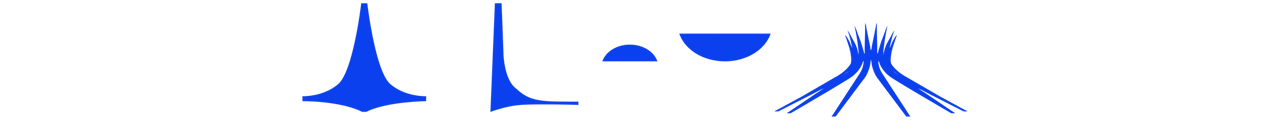Programa - Comunicação Oral - CO31.1 - Saúde Materna, Reprodutiva e Desfechos Gestacionais indígenas
30 DE NOVEMBRO | DOMINGO
15:00 - 16:30
DETERMINANTES SOCIAIS ASSOCIADOS À SÍFILIS GESTACIONAL EM INDÍGENAS NA AMAZÔNIA: ESTUDO CASO-CONTROLE ANINHADO À COORTE DE 100 MILHÕES DE BRASILEIROS
Comunicação Oral
1 ENSP/FIOCRUZ
2 CIDACS/FIOCRUZ
3 LSHTM
Apresentação/Introdução
A sífilis gestacional permanece como um grave problema de saúde pública, especialmente entre populações vulnerabilizadas que vivem em vazios assistenciais. A doença é pouco estudada em mulheres indígenas na Amazônia, onde as condições sociais, territoriais e de acesso ao pré-natal são os principais desafios da atenção à saúde.
Objetivos
Analisar os determinantes sociais associados à ocorrência de sífilis gestacional em indígenas residentes na Amazônia brasileira analisando dados da Coorte de 100 Milhões de Brasileiros, do CIDACS/Fiocruz-BA, no período de 2011 a 2015.
Metodologia
Estudo caso-controle aninhado à Coorte de 100 Milhões de Brasileiros, com 91 casos de sífilis gestacional em indígenas e 273 controles, pareados no tempo, pela data de parto. A Coorte é oriunda da vinculação por similaridade (CIDACS-RL) das bases de dados do baseline da Coorte, SINASC e SINAN. Aplicou-se regressão logística condicional usando modelo hierarquizado em três níveis: distal (determinantes territoriais e sociais), intermediário (acesso ao pré-natal) e proximal (histórico obstétrico). As variáveis com p<0,25 em cada nível foram testadas em modelo múltiplo, sendo mantidas no modelo final aquelas com p<0,05 após ajustes pelas variáveis retidas no mesmo nível e nos níveis anteriores.
Resultados
A sífilis gestacional entre indígenas associou-se à UF de residência — Acre (ORa: 6,66; IC95%: 1,79–24,66) e Pará (ORa: 4,07; IC95%: 1,23–13,45) —, residir em zona urbana (ORa: 2,42; IC95%: 1,29–4,58), não ter companheiro (ORa: 2,14; IC95%: 1,20–3,80) e ser primípara (ORa: 2,85; IC95%: 1,16–7,03). O tempo de recebimento do Bolsa Família apresentou associação inversa com a sífilis, com efeito dose-resposta: 67 a 86 meses (ORa: 0,40; IC95%: 0,17–0,96) e ≥87 meses (ORa: 0,23; IC95%: 0,09–0,61). Os achados revelam desigualdades territoriais, ausência de apoio conjugal e vulnerabilidade reprodutiva como determinantes da sífilis, destacando o papel protetivo das políticas de transferência de renda.
Conclusões/Considerações
A sífilis gestacional entre indígenas da Amazônia reflete iniquidades sociais e territoriais persistentes. O controle da sífilis requer fortalecimento de políticas intersetoriais, ampliação do acesso ao pré-natal e formação intercultural em saúde indígena. Programas de proteção social, como o Bolsa Família, mostram-se estratégicos ao considerar o território como determinante da saúde reprodutiva.
EXPERIENCIA DE MULHERES INDÍGENAS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DURANTE A REALIZAÇÃO DE SEUS PARTOS EM AMBIENTE HOSPITALAR.
Comunicação Oral
1 UFMS.
2 Fiocruz, Mato Grosso do Sul.
3 UEMS
Apresentação/Introdução
O parto de mulheres indígenas é um tema importante e complexo, que envolve questões culturais, sociais e de saúde. Entre estas estão: Acesso limitado a serviços de saúde; Discriminação e racismo; Falta de profissionais de saúde treinados. Os fatores citados podem criar barreiras para o acesso, a qualidade no atendimento e a comunicação efetiva entre usuárias e profissionais.
Objetivos
Descrever a experiência de mulheres indígenas no estado de Mato Grosso do Sul durante a realização de seus partos em ambiente hospitalar.
Metodologia
Estudo transversal, realizado em ambiente hospitalar com mulheres indígenas que tiveram parto e/ou receberam atendimento pós-parto imediato período de 21 de novembro de 2021 a 24 de agosto de 2022. Realizado em dez municípios, em doze (12) unidades hospitalares e uma (1) casa de parto normal do Estado de Mato Grosso do Sul (MS). A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista durante a internação no período de 24 a 48 horas após o parto, foram coletadas informações sobre dados sociodemográficos, características da assistência pré-natal e da experiencia destas mulheres acerca do atendimento recebido pelos profissionais durante o parto.
Resultados
Participaram deste estudo 461 mulheres indígenas, a maioria com idade entre 20 e 34 anos (65,7%), (51,8) com ensino fundamental. Cerca de 86 % das mulheres tiveram seu pré-natal realizado em Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) localizadas em seus territórios. Quando questionadas sobre o atendimento recebido durante a assistência ao parto, relataram terem vivenciado situações de violência obstétrica como: Não lhes ser permitido escolher a posição que queriam parir; falta de respeito e profissionalismo durante a assistência assim como relatos de discriminação e preconceito no atendimento recebido dos profissionais não indígenas durante o parto.
Conclusões/Considerações
O estudo evidenciou a persistência de situações discriminatórias no atendimento a mulher indígena nos serviços de atenção ao parto e que estas constituem grandes desafios. Sendo fundamental o enfrentamento de preconceitos de racismo contra as mulheres indígenas, a garantia de direitos como o de tomar decisões sobre seu próprio corpo, de manter e praticar suas tradições culturais e de acessar serviços de saúde de qualidade.
PROJETO BOM PARTO: ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO CUIDADO HUMANIZADO A GESTANTES INDÍGENAS DA COMUNIDADE PARQUE DAS TRIBOS
Comunicação Oral
1 Instituto Leônidas e Maria Deane – ILMD Fiocruz/Amazônia/Secretaria Municipal de Saúde de Manaus
2 Secretaria Municipal de Saúde de Manaus
3 Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas - UFAM
Período de Realização
De março de 2023 até hoje, com início na Maloca dos Povos Indígenas e, desde janeiro de 2024, na USF local.
Objeto da experiência
Cuidado humanizado e intercultural às gestantes indígenas em contexto urbano, por equipe multiprofissional.
Objetivos
Ofertar atenção humanizada e ampliar a cobertura pré-natal entre gestantes indígenas do Parque das Tribos, promovendo cuidado integral, intercultural e em rede, com foco na escuta qualificada, valorização dos saberes tradicionais e fortalecimento da autonomia.
Metodologia
O projeto iniciou com foco em gestantes indígenas, respeitando especificidades culturais. Com a grande adesão, passou a acolher também mulheres não indígenas, mantendo o foco na interculturalidade e nos princípios do SUS. Iniciado com 4 gestantes, hoje acompanha 80, totalizando 150 gestantes desde o seu inicio. Realiza mensalmente: rodas de conversa, atraves da dialógica emancipatório, educação em saúde e ações da equipe multiprofissional: escuta, preparo para o parto e articulação com políticas públicas.
Resultados
Identificou-se alta vulnerabilidade social, insegurança alimentar e ausência de apoio familiar. A fisioterapia reduziu dores e preparou para o parto; a enfermagem garantiu 97% a cobertura do pré-natal; o serviço social articulou a garantia aos direitos socias, facilitando o acesso ao Bolsa Família, ao programa Leite do Meu Filho e à rede de saúde. O cuidado intercultural ampliou o acesso, fortaleceu a autonomia e o protagonismo das gestantes.
Análise Crítica
A experiência reafirma a importância da abordagem interprofissional e do respeito à diversidade cultural no SUS. Os desafios no território exigem escuta sensível, articulação com instituições e protagonismo das mulheres. O uso de tecnologias simples, como o WhatsApp, potencializa o cuidado contínuo. O Projeto mostra que práticas simples, quando articuladas à cultura local, promovem grandes impactos na qualidade do pré-natal e nos indicadores de saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
O Projeto Bom Parto é uma referência exitosa de atenção pré-natal humanizada em contextos urbanos indígenas. A valorização da cultura, a articulação em rede e a atuação interprofissional demonstram caminhos possíveis para superação de barreiras estruturais e institucionais. Recomenda-se replicar essa experiência em outros territórios com populações vulneráveis e fortalecer políticas públicas voltadas à equidade em saúde.
SAÚDE REPRODUTIVA DE MULHERES INDÍGENAS EM MATO GROSSO DO SUL
Comunicação Oral
1 FIOCRUZ Mato Grosso do Sul
Apresentação/Introdução
A saúde reprodutiva reconhece a autonomia da mulher sobre o próprio corpo, desejos, sexualidade e decisões sobre a reprodução. No entanto, a baixa cobertura, acesso e qualidade dos serviços de saúde, além da escassez de dados, evidencia situações de vulnerabilidade das mulheres indígenas frente às políticas públicas que respeitem seus direitos reprodutivos e especificidades culturais.
Objetivos
Estimar a prevalência de utilização de métodos contraceptivos de acordo com as condições sociodemográficas de mulheres indígenas em idade fértil do Mato Grosso do Sul.
Metodologia
Estudo transversal com 227 mulheres indígenas participantes da pesquisa “Avaliação da saúde e nutrição de mulheres e crianças indígenas em Mato Grosso do Sul: uma coorte de gestantes e nascimento”, realizada entre janeiro e agosto de 2023. Para este estudo foram investigadas as variáveis sociodemográficas (município de residência, etnia, idade, situação conjugal e número de filhos) , tendo como desfecho o uso de métodos contraceptivos. Os dados foram coletados em instrumento específico, realizado em 10 (dez) terras indígenas localizadas nos municípios de Amambai, Dourados, Caarapó, Miranda; e comunidades urbanas de Campo Grande e Sidrolândia. Estudo aprovado pela CONEP, parecer de nº 5.887.564.
Resultados
A prevalência de uso de métodos contraceptivos entre as mulheres indígenas foi 85,5%, sendo o anticoncepcional injetável trimestral o mais prevalente, com 58%. A maioria das mulheres indígenas que utilizava método contraceptivo morava em aldeias localizadas nos municípios de Dourados e Amambai, era da etnia Guarani/Kaiowá (132 - 86,8%), na faixa etária de 19 a 24 anos (74 - 33,5%), com companheiro (170 - 89%) e primípara (68 -36,0%). Quando verificadas as prevalências de uso de método contraceptivo, todas as mulheres acima de 40 anos (7 - 100%) faziam uso, enquanto as mulheres sem companheiros (14 - 42,4%) e menores de 18 anos (6 - 20%) apresentaram o menor uso.
Conclusões/Considerações
Evidencia-se uma ampla adesão aos métodos contraceptivos injetáveis trimestrais e menor o uso entre as adolescentes e mulheres indígenas sem companheiros, o que reflete vulnerabilidades relacionadas ao acesso, autonomia reprodutiva e informações sobre saúde sexual e reprodutiva. Destaca-se a necessidade de políticas públicas voltadas à saúde reprodutiva que respeitem os contextos sociais e culturais da mulher indígena sul-mato-grossense.
TENDÊNCIA TEMPORAL DA COBERTURA DO SISVAN-I ENTRE CRIANÇAS INDÍGENAS MENORES DE 5 ANOS DO ALTO RIO SOLIMÕES, AMAZONAS (2015-2024)
Comunicação Oral
1 Instituto Leônidas e Maria Deane (Fundação Oswaldo Cruz)
2 Universidade Federal do Espírito Santo
Apresentação/Introdução
O estado nutricional infantil é um importante indicador de saúde, especialmente em contextos de vulnerabilidade. Nesse sentido, a vigilância nutricional é essencial para monitorar a situação das crianças indígenas, principalmente em Distritos Sanitários Indígenas localizados em regiões de fronteira, frente à transição nutricional em curso e à escassez de dados sobre cobertura na última década.
Objetivos
Analisar a tendência temporal da cobertura do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena (Sisvan-I) entre crianças indígenas menores de 5 anos do Alto Rio Solimões, Amazonas, de 2015 a 2024.
Metodologia
Estudo ecológico de séries temporais com dados do SISVAN-I. A unidade de análise corresponde ao Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena do Alto Rio Solimões (DSEI-ARS) e os seus 12 polos-base (Belém do Solimões, Betânia, Campo Alegre, Feijoal, Filadélfia, Nova Itália, São Paulo de Olivença, Tonantins, Umariaçú I, Umariaçú II, Vendaval, Vila Bitencourt). A cobertura foi calculada considerando-se: nº de crianças <5 anos, anualmente acompanhadas pelo sistema, e o nº de crianças da mesma idade cadastradas no SIASI no DSEI-ARS e em cada polo-base, no decorrer do período (2015 a 2024). Realizou-se regressão log-linear simples para o cálculo da variação percentual anual (VPA) no Stata 17.0.
Resultados
No DSEI-ARS, as coberturas do SISVAN-I em 2015 e 2024 foram de 57,5% e 98,7%, respectivamente. A cobertura aumentou, em média, 5,3% ao ano no período analisado (2015 a 2024), e essa tendência foi estatisticamente significativa (p=0,002). Os polos-base apresentaram tendências semelhantes; ao passo que Nova Itália, Vendaval e Umariaçú II apresentaram menor VPA (1,7%, p=0,002; 2,2%, p=0,001; 2,5%, p=0,004; respectivamente) e Tonantins, São Paulo de Olivença e Betânia apresentaram maior VPA (22,6%, p=0,002; 8,3%, p=0,001; 6,8%, p=0,001; respectivamente) no período analisado.
Conclusões/Considerações
Observou-se tendência crescente da cobertura do Sisvan-I no DSEI-ARS, assim como em todos os polos-base, refletindo um esforço para que as crianças indígenas sejam adequadamente monitoradas. No entanto, persistem desafios quanto à garantia da qualidade dos dados coletados e ao uso das informações no efetivo planejamento da atenção nutricional para crianças indígenas menores de 5 anos, frente à transição nutricional observada nas últimas décadas.