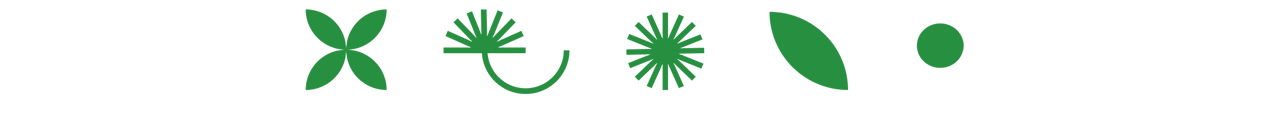
Programa - Comunicação Oral - CO7.4 - Sentidos, Vozes e silenciamentos sobre o SUS
30 DE NOVEMBRO | DOMINGO
15:00 - 16:30
15:00 - 16:30
ESQUECIMENTO, APAGAMENTO E SILENCIAMENTO: TRÊS MODOS DE NÃO-DIZER SOBRE O SUS NA IMPRENSA
Comunicação Oral
1 UFJF
Apresentação/Introdução
Não são poucos os estudos sobre a imagem do SUS na mídia, a partir de uma perspectiva discursiva. Em geral, enfatizam a cobertura de imprensa, a partir de uma leitura crítica e atenta sobre constituição, formulação e circulação dos discursos sobre nosso sistema de saúde. No entanto, cada enunciado sobre o SUS sustenta-se também sobre um triplo processo de não-dizer que precisa ser investigado.
Objetivos
Como objetivo geral, a pesquisa buscou compreender os três modos de não-dizer sobre o SUS que moldam o senso comum midiático e popular. Como objetivo específico, analisou comparativamente reportagens do Globo e da Folha de S.Paulo em 2023 e 2024.
Metodologia
Mais do que compreender o que está posto em linhas, textos e páginas de jornais, revistas e rede, é necessário nos interrogarmos também pelo que constitui, como silêncio, o senso comum midiático e popular acerca do sistema. Essa foi a proposta deste estudo, a fim de demonstrar procedimentos de análise que venham contribuir para este modo de compreensão discursiva. Foram elencadas especificamente reportagens no Globo e na Folha de S. Paulo que tratam do Sistema de Saúde nos dois primeiros anos do terceiro governo Lula. Partimos dos conceitos de “memória discursiva”, “pré-construído” e “formas de silêncio”, como dispositivos teórico--analíticos de base para a investigação.
Resultados
A pesquisa partiu da constatação de que há algumas formas recorrentes de silêncio sobre o SUS na imprensa. A mais debatida é o problema quase tabu do subfinanciamento. O trabalho buscou ampliar a compreensão destas “formas de silêncio”, analisando-as e distribuindo-as em níveis discursivos distintos: como “esquecimento”, “apagamento” e “silenciamento”; compreendendo o primeiro como constitutivo da memória em sua relação com o saber-dizer sobre o SUS; o segundo, como marca própria ao poder-dizer sobre o SUS, visto que apagamentos são políticos; e o terceiro como instância do dever-dizer, uma vez que põe em jogo os conflitos de interesse entre imprensa e mercado.
Conclusões/Considerações
Mapear as formas de silêncio sobre o SUS, especificando níveis distintos de funcionamento discursivo é contribuir para a leitura crítica sobre o que se diz e o que não se diz sobre o sistema. Pesquisas como estas justificam-se pelo fato de que a constituição, a formulação e a circulação midiática de discursos sobre o SUS estão na base da compreensão de como a sociedade entende e se apropria do sistema, em meio a forças políticas em disputa.
NÃO É SÓ HUMOR, É RESISTÊNCIA: MEMES E A LEGITIMAÇÃO DO SOFRIMENTO INVISÍVEL
Comunicação Oral
1 FSP/USP
2 Universidade de Cádiz/ CIBERSAM/ INiBICA
Apresentação/Introdução
A dor crônica é frequentemente invisibilizada por não deixar marcas físicas aparentes e por escapar aos parâmetros biomédicos tradicionais. Neste cenário, memes produzidos por pacientes em redes sociais, como o Telegram, tornam-se potentes formas de expressão. Este estudo analisa esses artefatos como dispositivos discursivos que expressam, elaboram e contestam experiências de sofrimento deslegitimadas.
Objetivos
Investigar como memes compartilhados por pacientes com dor crônica atuam como formas de comunicação, enfrentamento e crítica, refletindo seu papel na denúncia da desautorização médica, na produção de pertencimento e em redes simbólicas de cuidado.
Metodologia
Estudo qualitativo baseado na análise de conteúdo conforme Sampaio e Lycarião (2022). Foram examinados quatro memes, compartilhados em um grupo de apoio no Telegram voltado a pessoas com dor crônica. Os critérios de seleção consideraram relevância temática, engajamento coletivo e densidade discursiva. A análise seguiu quatro categorias: crítica à autoridade médica e ao epistemicídio da dor; a dor como experiência invisível e desautorizada; o humor como recurso de enfrentamento e denúncia; e a produção de resistência simbólica e de laços de pertencimento. A discussão articula autores da comunicação e da saúde, como Bourdieu, Wacquant, Shifman, Milner e Camargo & Cardoso.
Resultados
Os memes analisados revelam um repertório discursivo que desafia o silenciamento da dor crônica. Há críticas à medicalização simplificadora, à padronização da experiência de dor e à psicologização do sofrimento invisível. O humor emerge como linguagem de denúncia, reconhecimento e resistência. Ao circular entre pares, os memes constroem redes simbólicas de cuidado e pertencimento, onde os pacientes se veem, se escutam e se validam mutuamente. As peças analisadas ajudam a revelar, por meio do humor e da ironia, experiências de dor que os participantes sugerem ser frequentemente ignoradas, desautorizadas ou mal compreendidas no contexto médico tradicional.
Conclusões/Considerações
Os memes se configuram como dispositivos expressivos que desafiam a hegemonia biomédica, ao traduzirem em linguagem sensível experiências silenciadas. Para além do humor, funcionam como atos comunicativos e políticos, criando espaços de pertencimento e resistência simbólica. Ao darem voz à dor não legitimada, reforçam vínculos coletivos e disputam os sentidos legítimos sobre o que é sofrer e ser reconhecido.
RETRATOS DO ESPECTRO: A REPRESENTAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO AUDIOVISUAL
Comunicação Oral
1 UFS
Apresentação/Introdução
O audiovisual exerce uma influência significativa na formação de percepções sociais, moldando atitudes e comportamentos sobre questões diversas, incluindo saúde e condições médicas. Filmes, séries de TV e documentários desempenham um papel fundamental na construção do imaginário coletivo, promovendo empatia e conscientização ao abordar temas como doenças, deficiências e jornadas pessoais.
Objetivos
O estudo apresenta uma revisão narrativa da literatura acadêmica sobre a representação de personagens com TEA no audiovisual, com o objetivo de identificar categorias que revelem padrões, tendências, lacunas e contribuições para a compreensão social do tema.
Metodologia
A pesquisa analisou 23 produções acadêmicas publicadas entre 2007 e 2023, selecionadas a partir de plataformas como BDTD, Periódicos CAPES, DOAJ, SciELO e Google Acadêmico. Foram usados descritores como “TEA”, “autismo” e “representação”, com foco em obras audiovisuais. Após refinamento, priorizaram-se textos em português e inglês com análises detalhadas. A metodologia adotada foi a análise qualitativa de conteúdo, identificando categorias recorrentes que revelam padrões na forma como o audiovisual representa e influencia a percepção social do autismo.
Resultados
A análise de 23 estudos identificou cinco categorias principais de representação de personagens autistas: (1) disfuncionalidade psico/emocional, com crises e dificuldades frente ao estresse; (2) disfuncionalidade social, a mais frequente, marcada por isolamento e dificuldades de interação; (3) disfuncionalidade física, ligada à hipersensibilidade e comportamentos repetitivos; (4) talentos excepcionais, como memória e habilidades específicas; e (5) funcionalidade social, que mostra personagens superando barreiras com apoio terapêutico e familiar, alcançando maior autonomia.
Conclusões/Considerações
O estudo aponta avanços e desafios, sugerindo a ampliação do corpus e maior atenção à representação de mulheres autistas. Defende que o audiovisual pode desestigmatizar o autismo e promover mudanças sociais, desde que haja colaboração entre criadores e pesquisadores. Conclui que, embora ainda em transformação, a representação do TEA caminha para narrativas mais empáticas, que favorecem a inclusão e a compreensão da diversidade no espectro.
SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA COMUNICAÇÃO EM SAÚDE SOBRE A PREP: DISPUTAS ENTRE DISCURSOS ACADÊMICOS E NARRATIVAS NA REDE SOCIAL X™ (ANTIGO TWITTER)
Comunicação Oral
1 USP
2 Autônomo
Apresentação/Introdução
Este artigo analisa de que maneira o conhecimento científico sobre estratégias comunicacionais da profilaxia pré-exposição (PrEP) à infecção pelo vírus do HIV se articula com os discursos e narrativas produzidos na rede social X™, considerando as disputas simbólicas e políticas em torno do cuidado e da individualização das práticas de saúde sexual, centradas no uso biomédico da PrEP.
Objetivos
Investigar como os discursos acadêmicos sobre a comunicação em saúde relacionada à PrEP se articulam, convergem ou se contrapõem às narrativas produzidas por usuários na rede social X™, revelando tensões simbólicas e políticas no campo do cuidado.
Metodologia
Adotou-se uma abordagem qualitativa estruturada em duas etapas metodológicas: uma revisão integrativa da literatura acadêmica sobre comunicação em saúde e PrEP nas bases SciELO e Scopus, entre 2017 e 2025, e uma análise discursiva de postagens da rede social X™. Os artigos foram organizados e triados na plataforma Rayyan, com base em critérios de relevância e foco temático. Os tuítes foram selecionados por engajamento e diversidade de sentidos, considerando sujeitos diversos e múltiplos contextos discursivos. A análise baseou-se em aportes interdisciplinares e autores da saúde coletiva, com ênfase na produção de sentidos, nas disputas simbólicas e nos efeitos comunicacionais sobre o cuidado.
Resultados
A partir da análise, emergiram quatro categorias analíticas: (1) comunicação estratégica e políticas públicas; (2) percepções, saberes e lacunas informacionais; (3) práticas comunicativas e redes de sociabilidade entre pares; e (4) estigmas, narrativas e representações simbólicas. Esses achados revelam tensões entre discursos biomédicos normativos e narrativas afetivas e críticas nas redes sociais. Os tuítes evidenciam disputas morais, estratégias de pertencimento, resistência ao estigma e novas formas de produção de cuidado, muitas vezes mais potentes que os modelos institucionais de comunicação em saúde vigentes.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que a comunicação em saúde sobre a PrEP se constitui a partir de embates entre racionalidades biomédicas, moralismos e práticas comunitárias de cuidado. Defende-se, assim, a urgência de (re)pensar as estratégias comunicacionais, promovendo a garantia de espaços de escuta e co-construção de sentidos, que reconheçam a comunicação como dimensão fundamental do cuidado em saúde para construir caminhos possíveis de produção de existências.
VOZES NA REDE: EXPERIÊNCIAS DE EXTENSIONISTAS NA REALIZAÇÃO DE UM PODCAST VOLTADO À AÇÕES EDUCATIVAS E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM SAÚDE MENTAL
Comunicação Oral
1 UNICAMP
Período de Realização
Idealizado em 2020, o podcast Vozes na Rede preparou sua quarta temporada, com lançamento em 2025.
Objeto da experiência
Fortalecer o vínculo entre Universidade e sociedade com ações educativas acessíveis sobre saúde mental, apoiando a formação discente interdisciplinar.
Objetivos
Descrever a experiência de um grupo de extensionistas no uso de tecnologias de comunicação para promover ações educativas e divulgação científica sobre saúde mental, visando ampliar o conhecimento dos diferentes atores sociais, reduzir estigmas e fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial.
Descrição da experiência
O podcast Vozes na Rede surgiu de ações educativas em saúde mental. Atualmente, envolve docentes, discentes e pesquisadores das áreas de saúde e artes. Vinculado à Faculdade de Enfermagem da Unicamp, publica temporadas semestrais na plataforma do Spotify e outras mídias. Extensionistas atuam na produção, edição, divulgação e mobilização das temporadas. Os temas abordam a Rede de Atenção Psicossocial, saúde mental, Reforma Psiquiátrica, movimento antimanicomial, estigma e redução de danos.
Resultados
Conta com três temporadas e oito episódios publicados, abordando as percepções dos atores sociais das regiões Sul-Sudoeste, Norte-Nordeste e Centro-Oeste. Destacam-se o engajamento da comunidade, o acesso à informação e a promoção do pensamento reflexivo sobre saúde mental. Ouvintes relataram a importância de escutar vozes silenciadas por estigmas, repensar valores e apoiar pessoas em situações difíceis. Extensionistas desenvolveram habilidades em comunicação científica e produção audiovisual.
Aprendizado e análise crítica
A saúde mental é uma pauta urgente que enfrenta desafios como desinformação e estigma. O podcast Vozes na Rede estimulou o pensamento crítico e disseminou informações sobre saúde mental. Ao adotar um diálogo horizontal, reuniu embasamento científico e experiências vividas sobre o cuidado em saúde mental. O projeto integrou extensão, ensino e pesquisa, transformando conhecimento acadêmico em ação social, promovendo um espaço contínuo de debate entre universidade e comunidade.
Conclusões e/ou Recomendações
O podcast Vozes na Rede mostrou-se eficaz para promover o diálogo sobre saúde mental, unindo evidência científica e experiências vividas de forma acessível. O engajamento da comunidade e a redução do estigma foram resultados positivos. Recomenda-se ampliar a participação de atores sociais e regiões, além de reforçar a formação contínua de extensionistas, garantindo a sustentabilidade do projeto e o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial.
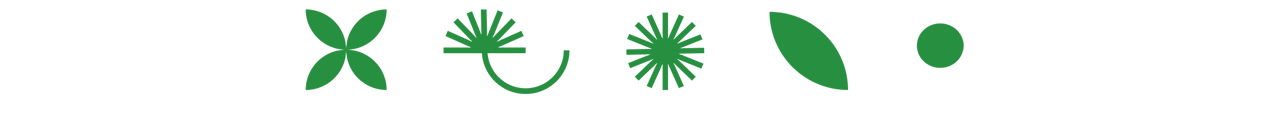
Realização:


Patrocínio:




Apoio:






