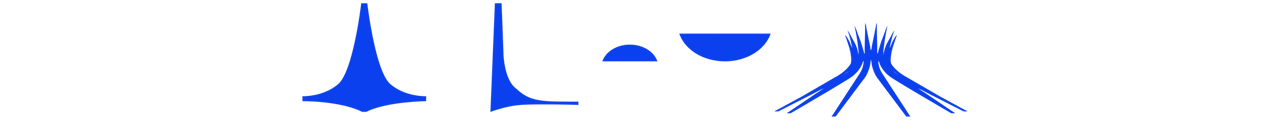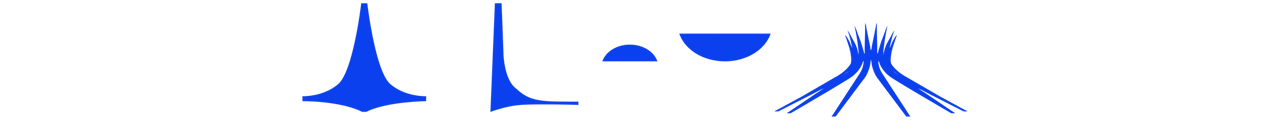Programa - Comunicação Oral - CO26.5 - Saúde Mental e Trabalho
01 DE DEZEMBRO | SEGUNDA-FEIRA
15:00 - 16:30
A SAÚDE DOS TRABALHADORES E A COMUNIDADE QUE SUSTENTA A AGRICULTURA (CSA) NO ESTADO DO PARÁ: ESTUDO DE CASO DA CSA IÂNDE
Comunicação Oral
1 USP
2 UFS
Apresentação/Introdução
A CSA é um modelo de produção e consumo baseado em atividades que aproximam agricultores e consumidores. Cabe aos consumidores o compromisso de financiar um orçamento previsto pelos agricultores, e aos agricultores entregar periodicamente os alimentos produzidos. Ambos compartilham os riscos da agricultura e, ao mesmo tempo, os benefícios de estarem associados com um mesmo objetivo.
Objetivos
Este estudo teve como objetivo compreender o impacto da CSA na saúde dos trabalhadores rurais da CSA Iânde, localizada no estado do Pará.
Metodologia
Para o estudo de caso da CSA Iandê, foi realizado levantamento etnográfico que contou com documentos fornecidos pela CSA Brasil, além da realização de uma visita de campo no mês de outubro de 2024, com duração de 7 dias nas cidades de Belém e Santa Bárbara do Pará. Foram realizadas oito entrevistas, sendo sete individuais, com três agricultores e quatro coagricultores (consumidores) e uma entrevista coletiva, com um grupo de dez pessoas, entre elas técnicos e agricultores. As entrevistas foram audiogravadas e transcritas com o uso de software. Para a análise dos dados, foram utilizados conceitos da Teoria da Atividade Histórico-Cultural, além de análise de conteúdo das entrevistas.
Resultados
Os achados revelaram que o Sistema de Atividade (SA) da CSA Iânde tem como objeto a produção de sistemas agroflorestais (SAF). As análises das entrevistas permitiram identificar três principais categorias: pertencimento, tecnologia social e sustentabilidade. Todas elas apontam para um impacto positivo na saúde dos trabalhadores, possibilitando a redução de sintomas de depressão, da carga de trabalho e estresse. A tecnologia social é o elemento instrumental que fornece autonomia e soberania alimentar aos agricultores. Já a sustentabilidade demonstrou a preservação dos recursos naturais (solo e água), promoção da sucessão familiar, que, no passado, era motivo de preocupação.
Conclusões/Considerações
A interação das dimensões de produção, distribuição e consumo de alimentos pode contribuir para a construção de um ambiente saudável ou para a degradação das condições de vida. A CSA mostrou-se como um modelo alternativo na superação das contradições primárias do capital, e os impactos na saúde do trabalhador rural são positivos, apesar dos desafios enfrentados pelos agricultores.
SAÚDE COLETIVA EM ÁGUAS TURVAS: A REALIDADE INVISIBILIZADA DOS PESCADORES PROFISSIONAIS DO PANTANAL MATO-GROSSENSE
Comunicação Oral
1 Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT
2 Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
3 Universidade Estadual de Mato Grosso - UNEMAT
4 Universidade Estadual Paulista - UNESP
Período de Realização
As atividades foram desenvolvidas nos anos de 2023 a 2024
Objeto da experiência
Pescadores cadastrados as colônias de pesca Colônia de Pescadores de Cáceres (Colônia Z-2) e Associação de Pescadores Profissionais de Cáceres (APPEC)
Objetivos
Relatar a experiência vivenciada com os pescadores profissionais artesanais sob o olhar da saúde coletiva, destacando suas condições de vida e trabalho
Metodologia
As atividades foram realizadas em Cáceres-MT, vinculado ao projeto de doutorado de uma pesquisadora da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), por meio do Laboratório de Ictiologia do Pantanal Norte (LIPAN), com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme parecer nº 5.928.210. As ações ocorreram em duas colônias de pescadores e incluíram visitas para realização de entrevistas, rodas de conversa e atividades de educação em saúde, promovendo o cuidado e o diálogo com essa população
Resultados
Segundo relatos dos pescadores, a categoria enfrenta jornadas excessivas sob condições adversas, como quedas, acidentes com animais, sol intenso, exaustão física e mental. Vivem com carência de saneamento e difícil acesso à saúde, já que as colônias ficam a horas de barco dos centros urbanos. Soma-se a escassez de peixes cada vez maior, agravada pelas queimadas no Pantanal, e a apreensão com a Lei da Cota Zero, que proíbe o transporte e comércio de várias espécies, comprometendo seu sustento e de suas famílias
Análise Crítica
A pesca é a principal fonte de sustento para muitas famílias ribeirinhas e mantém vínculos culturais e saberes tradicionais. Porém, a atividade é marcada pela invisibilidade social e política, o que contribui para a precarização do trabalho e negligência das suas necessidades. Ademais, as atividades educativas estimularam discussões sobre cuidados em saúde, ao mesmo tempo em que revelaram a sensação de abandono vivida por essa população
Conclusões e/ou Recomendações
A vivência evidenciou como a exclusão social e a precarização do trabalho impactam diretamente o processo saúde-doença dos pescadores. Na saúde coletiva, é urgente reconhecer esses determinantes e fortalecer práticas educativas que promovam o cuidado integral, o pertencimento e a valorização do saber popular, ampliando o acesso e o reconhecimento de seus direitos sociais e políticos
A LUTA EM DEFESA DA SAÚDE E DA VIDA DOS EXPOSTOS AO AMIANTO: A RESISTÊNCIA COLETIVA DA ABREA/MG NO ENFRENTAMENTO DAS INJUSTIÇAS SANITÁRIAS E SOCIAIS
Comunicação Oral
1 FIOCRUZ/RJ/CESTEH/ENSP
2 ABREA/MG
Período de Realização
junho 2021 a junho 2024
Objeto da experiência
A atuação coletiva da ABREA/MG na defesa de direitos, assistência médica e reparação dos danos causados aos expostos ao amianto em Minas Gerais.
Objetivos
Fortalecer a organização coletiva e a representação política dos expostos ao amianto; garantir o acesso integral à saúde e à justiça; promover educação popular em saúde; fomentar o controle social e denunciar as violações de direitos decorrentes da exposição ao amianto na região mineira.
Descrição da experiência
Trabalhadores expostos e adoecidos criaram a ABREA/MG frente à negligência estatal e ao ocultamento de riscos pela empresa. Como movimento de resistência, realiza assembleias formativas, articulações políticas, com apoio da Fiocruz. Atua na produção de dados epidemiológicos, busca ativa/formativa, participação no controle social, reparação judicial aos danos causados e encaminhamentos assistenciais em saúde.
Resultados
A ABREA/MG alcançou mais de 500 atendimentos assistenciais, garantindo exames, orientação jurídica e encaminhamentos em saúde. Obteve êxito em 90% das ações judiciais coletivas e individuais. A atuação resultou em reconhecimento público da exposição, audiências públicas, audiências com órgãos do sistema de justiça para reparação de danos. A educação popular impulsionou formação cidadã e mobilização de novos sujeitos políticos.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidencia a potência dos movimentos sociais na promoção do direito à saúde. Demonstrou que a organização popular pode enfrentar desigualdades históricas e ampliar o acesso à justiça. A invisibilização dos expostos(as) exigiu estratégias de escuta e reconhecimento. A ausência de políticas públicas adequadas tornou a atuação autônoma da ABREA/MG essencial. A experiência reafirma a importância da educação crítica, da memória coletiva e do trabalho interinstitucional.
Conclusões e/ou Recomendações
A trajetória da ABREA/MG revela que a reparação aos danos do amianto requer uma abordagem intersetorial, com integração entre saúde, justiça, assistência, academia e educação. Recomenda-se a ampliação de políticas de atenção integral aos expostos, reconhecimento do saber popular, financiamento de ações formativas, fortalecimento e inclusão efetiva dos movimentos sociais nos espaços de decisão em saúde coletiva.
CORPOS, VOZES E ESPAÇOS DE CUIDADO EM SAÚDE: LITERATURA DE MULHERES NEGRAS COMO RESISTÊNCIA E PRODUÇÃO AMPLIADA DE SAÚDE
Comunicação Oral
1 Fiocruz
Período de Realização
Agosto de 2024, durante o Seminário Internacional Fazendo Gênero 13 – UFSC, Florianópolis (SC).
Objeto da experiência
Oficina litero-poética sobre saúde, cuidado e trabalho com enfoque interseccional em gênero, raça e classe.
Objetivos
Apresentar a experiencia de desenvolvimento de oficina literária: CORPOS, VOZES E ESPAÇOS DE CUIDADO EM SAÚDE: LITERATURA DE MULHERES NEGRAS como prática de resistência e estímulo de construção de espaços coletivos de escuta, cuidado e valorização dos saberes das trabalhadoras.
Descrição da experiência
A oficina teve duração de duas horas e reuniu em torno de 17 mulheres. A literatura foi usada como mediadora para refletir sobre os impactos do racismo, do sexismo e da lógica colonial na saúde e nas condições de trabalho das mulheres, especialmente daquelas envolvidas no cuidado. As leituras compartilhadas foram retiradas de obras de Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez e outras autoras negras, seguidas de uma produção textual voluntária.
Resultados
O espaço criado favoreceu o compartilhamento de vivências sobre opressões estruturais, sobrecarga de trabalho e adoecimento. As participantes relataram que o enfoque interseccional é ausente em suas formações profissionais. A oficina demonstrou ser replicável em contextos de saúde, educação e assistência, potencializando práticas de cuidado e fortalecimento coletivo.
Aprendizado e análise crítica
A experiência revelou a potência das práticas artísticas na construção de ambientes de cuidado e escuta qualificada. As narrativas evidenciaram como a sobreposição de desigualdades impacta a saúde das trabalhadoras, especialmente negras. O uso da literatura contribuiu para ampliar o repertório crítico das participantes, reafirmando a necessidade de incorporar práticas sensíveis na saúde do trabalhador e nas políticas públicas interseccionais.
Conclusões e/ou Recomendações
É fundamental reconhecer a literatura e a arte como campo de conhecimento para práticas ampliadas de saúde. Recomenda-se a inclusão de espaços formativos interseccionais em políticas de saúde do trabalhador, com foco na escuta, acolhimento e promoção da saúde das trabalhadoras.
CONDIÇÕES DE TRABALHO E INIQUIDADES NO CONSUMO DE FRUTAS E HORTALIÇAS NAS MACRORREGIÕES DO BRASIL: RESULTADOS DA PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE 2019
Comunicação Oral
1 UERJ
Apresentação/Introdução
No Brasil, uma parcela expressiva da população não atinge as recomendações de consumo de frutas e hortaliças, importantes marcadores de alimentação saudável. Esse cenário pode ser reflexo de desigualdades geográficas e sociais, como aquelas relacionadas ao trabalho, no acesso a esses alimentos. Nesse contexto, é relevante identificar potenciais desigualdades no consumo destes alimentos.
Objetivos
Analisar a prevalência do consumo regular de frutas e hortaliças segundo a situação de trabalho no Brasil e em suas cinco macrorregiões, com base nos dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019.
Metodologia
Estudo transversal conduzido a partir de dados da população brasileira (≥18 anos) economicamente ativa, avaliada pela PNS em 2019 (n = 48.685). O consumo regular de frutas e hortaliças foi avaliado considerado o consumo em cinco ou mais dias na semana destes alimentos. As demais variáveis foram a condição de trabalho (formal, informal e desemprego) e as macrorregiões geográficas do país. As prevalências e respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%) foram estimados segundo condição de trabalho, para o Brasil e macrorregiões. A ausência de sobreposição entre os IC95% foi assumida como diferença significativa, ao nível de 5%.
Resultados
No Brasil, o consumo regular de frutas e hortaliças foi mais frequente entre trabalhadores formais (35,8%; IC95%: 34,5–37,0), seguido por informais (33,1%; IC95%: 31,9–34,3) e desempregados (23,4%; IC95%: 21,1–25,9). Entre formais, as menores prevalências ocorreram no Norte (30,3%; IC95%: 27,5–33,3) e Nordeste (31,9%; IC95%: 29,3–34,6), enquanto Sul (38,3%; IC95%: 36,0–40,7) e Sudeste (37,3%; IC95%: 35,3–39,4) apresentaram os maiores valores. Entre informais, Norte (21,5%; IC95%: 19,6–23,6) e Nordeste (25,8%; IC95%: 24,2–27,5) apresentaram menores percentuais de consumo. Entre desempregados, o Nordeste teve menor consumo (18,1%; IC95%: 15,3–21,4) frente ao Sudeste (26,8%; IC95%: 22,7–31,5).
Conclusões/Considerações
Os resultados mostram desigualdades no consumo regular de frutas e hortaliças, com menor prevalência entre trabalhadores informais e desempregados, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Esses achados indicam que desigualdades sociais e geográficas impactam no acesso e no consumo de alimentos saudáveis, evidenciando a necessidade de Políticas públicas integradas voltadas às condições laborais e de garantia à alimentação adequada e saudável.
ENTRE O TRABALHO E O CUIDADO: FUNCIONALIDADE, SAÚDE E PERMANÊNCIA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS URBANAS E RURAIS NO SUDESTE DO BRASIL
Comunicação Oral
1 UFMG
2 UNESP
Apresentação/Introdução
Comunidades quilombolas enfrentam desigualdades históricas que impactam suas formas de viver, trabalhar e cuidar da saúde. Esta pesquisa parte de experiências rurais (SP) e urbanas (MG), abordando o trabalho, a agroecologia e os modos coletivos de resistência em seus territórios.
Objetivos
Investigar condições de saúde e trabalho em comunidades quilombolas rurais e urbanas, analisando os DSS e a determinação social do processo saúde-doença-trabalho em contextos agroecológicos e de economia solidária.
Metodologia
Pesquisa-ação com observação participante e entrevistas em duas comunidades quilombolas: uma urbana, em Belo Horizonte (MG), e outra rural, no Vale do Ribeira (SP). A análise é guiada pelo modelo biopsicossocial, pelos determinantes sociais da saúde e pela determinação social do processo saúde-doença-trabalho. Utiliza-se a Ergonomia da Atividade para compreender as relações entre trabalho, saúde e funcionalidade, valorizando saberes locais. Acompanha-se o cotidiano de vida e trabalho, com foco na produção agroecológica (especialmente do café) em SP e na produção cultural e artesanal como geração de renda em MG.
Resultados
Em ambas as comunidades, moradores têm buscado trabalho fora dos territórios, mas expressam o desejo de fortalecer o trabalho local como fonte de renda, pertencimento e cuidado. Em SP, a produção agroecológica enfrenta barreiras ergonômicas, climáticas e organizacionais, afetando mobilidade, resistência, cognição e dor musculoesquelética. Em BH, há instabilidade nas redes de artesanato, bambuzeria e produção cultural, comprometendo engajamento, autonomia funcional e reconhecimento social. A análise evidencia como fatores sociais (como racismo estrutural, precariedade das redes de apoio, ausência de políticas de fortalecimento da economia local), ambientais (como instabilidade climática, degradação do solo, dificuldade de acesso à água de qualidade) e políticos (como invisibilidade institucional, escassez de políticas públicas específicas e burocracias nos editais de fomento) impactam o desempenho, a participação e a funcionalidade, influenciando o desejo de permanecer com dignidade e saúde nos territórios. As dores físicas, o sofrimento psíquico e as dificuldades de acesso aos serviços de saúde foram relatados por ambas as comunidades como fatores que agravam as vulnerabilidades e limitam a continuidade dos projetos de vida nos territórios.
Conclusões/Considerações
O trabalho é central na produção de saúde e pertencimento em territórios quilombolas. Valorizar saberes locais, fortalecer redes solidárias e ampliar políticas públicas são caminhos para a permanência digna. As experiências mostram que modos de vida enraizados no território geram cuidado, autonomia e resistência.