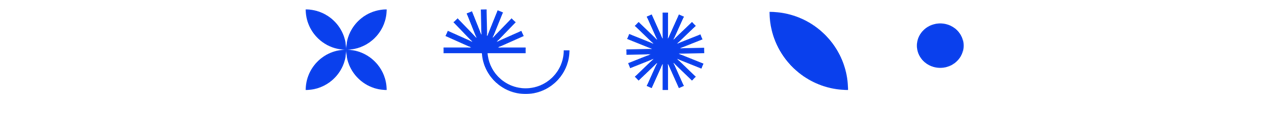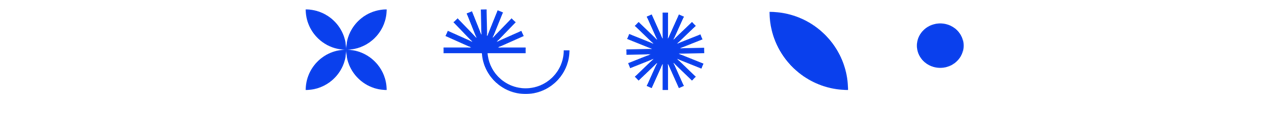Programa - Comunicação Oral - CO33.7 - Saúde Mental no contexto das políticas para as mulheres
01 DE DEZEMBRO | SEGUNDA-FEIRA
15:00 - 16:30
AVALIAÇÃO DA SAÚDE MENTAL DE MULHERES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DE UM CONJUNTO PENAL DE UMA CIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA
Comunicação Oral
1 Unimontes
Apresentação/Introdução
A saúde mental de mulheres em situação de privação de liberdade é um tema de crescente relevância, considerando as vulnerabilidades específicas enfrentadas por essa população. Fatores como o rompimento de vínculos familiares, a superlotação das unidades prisionais e o acesso limitado a serviços de saúde contribuem para o agravamento do sofrimento psíquico e das condições de saúde dessas mulheres.
Objetivos
Avaliar o estado de saúde mental de mulheres em situação de privação de liberdade em uma unidade prisional no sudoeste da Bahia.
Metodologia
Trata-se de um estudo transversal, descritivo, quantitativo. Os dados foram coletados em um conjunto penal no mês de julho de 2022. A amostra foi composta por mulheres reclusas com faixa etária entre 18 e 50 anos. Foi aplicado o Questionário de Saúde Geral de Goldberg com 12 questões (QSG-12). A classificação foi feita pelo método de pontuação de Likert: 0–11: saúde mental preservada, 12–20: leve sofrimento psicológico, 21–29: sofrimento moderado, 30–36: sofrimento grave. Os dados foram tabulados no Excel 2020 e tratados no SPSS versão 25.0 para frequências e porcentagens. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com CAAE 60969122.8.0000.8089 e número de parecer 5.550.238.
Resultados
Foram entrevistas todas as internas que se encontravam reclusas, totalizando 12 mulheres. A média de idade foi 28 (±10,01) anos. Quanto aos delitos, 72,7% foram tráfico de drogas, 18,2% homicídio e 9,1% roubo. Da amostra, 66,7% foram classificadas como “sofrimento moderado” e 33,3% como “sofrimento grave”. A maioria afirma que as preocupações tem feito perder o sono mais do que o costume (66,7%), 50% afirma que tem se sentido menos útil do que o costume, 58,3% tem notado que está mais agoniado e tenso do que de costume, 66,7% tem se sentido pouco feliz e deprimido mais que o costume, 75% afirmam que não perdeu a confiança em si mesma, 75% não concordam que “não servem para nada”.
Conclusões/Considerações
As mulheres privadas de liberdade avaliadas apresentam níveis moderados de sofrimento psíquico. Esse achado reforça a necessidade de implementação de estratégias com enfoque na prevenção, no cuidado contínuo e na reintegração social dessas mulheres. Políticas públicas que articulem saúde, justiça e assistência social, são fundamentais para mitigar os impactos negativos da privação de liberdade sobre a saúde feminina.
DEPRESSÃO E VIOLÊNCIA EM MULHERES BRASILEIRAS: RESULTADOS DA PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE 2019.
Comunicação Oral
1 UFRN
2 EBSERH
Apresentação/Introdução
A depressão atinge cerca de 350 milhões de pessoas mundo, sendo as mulheres as mais afetadas. Revela-se como resultado de uma complexa interação entre fatores biológicos, sociais, suas intercessões e, em especial, com a violência. Nesse contexto, a Nova Agenda de Saúde Mental para as Américas da Organização Panamericana de Saúde aponta a violência de gênero como importante ameaça à saúde mental
Objetivos
Descrever o perfil de mulheres que tiveram relato de depressão e sua associação com a violência sofrida, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019.
Metodologia
Estudo transversal descritivo, que analisou dados secundários da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz. A amostra foi composta por 1857 mulheres, com idade maior ou igual à 15 anos. Os dados foram extraídos entre outubro e novembro de 2022 e analisados por meio do software IBM SPSS v. 24.0 para Microsoft Windows®, identificando frequências simples e percentuais das variáveis analisadas. Foi realizado teste qui-quadrado e regressão linear.
Resultados
As mulheres que mais sofrem de depressão no Brasil são aquelas em idade não fértil, de raça não branca, que moram com o companheiro, estudaram até o ensino médio, sem trabalho remunerado, que praticam atividade religiosa uma vez ou mais por semana e não possuem plano de saúde. Na maioria dos casos o agressor era um parceiro íntimo ou parente, e quanto ao local da agressão se destaca a própria residência. Houve associação entre ter depressão e não ter trabalho remunerado (p<0,000) bem como entre ter sintoma depressivo e procurar serviço de saúde (p<0,001).
Conclusões/Considerações
Desigualdades econômicas vulnerabilizam a mulher para depressão e violência. A experiência de violência pode gerar efeitos negativos sobre a saúde mental das mulheres, e a presença de depressão pode dificultar o rompimento do ciclo de violência. É preciso articular estratégias de enfretamento que incluam notificação, acolhimento e mobilização política diante de um fenômeno que engendra um problema de saúde e violação de direitos.
DEPRESSÃO PÓS-PARTO E VÍNCULO AFETIVO MÃE-BEBÊ- PROPOSIÇÃO DE UM MODELO TEÓRICO DE CAUSALIDADE
Comunicação Oral
1 IFF/FIOCRUZ
2 Universidade Federal do Sul da Bahia
3 ENSP/FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
INTRODUÇÃO
A depressão pós-parto é apontada por alguns estudos como um fator de risco para redução do vínculo afetivo mãe-bebê. Todavia, os resultados ainda são inconsistentes devido às divergências metodológicas. Diante da complexidade dos fatores de risco potencialmente confundidores, recomenda-se o uso de ferramentas gráficas para identificar confundidores e estruturar modelos causais robustos.
Objetivos
Propor um modelo teórico de causalidade entre a depressão pós-parto e o vínculo afetivo mãe-bebê utilizando o gráfico acíclico direcionado.
Metodologia
O DAG proporciona diferente formalização para alguns conceitos epidemiológicos importantes, como o confundimento e o viés de seleção. Foi elaborado um DAG com base em revisão nas bases Scopus e PubMed com filtros texto completo e últimos 5 anos. Selecionaram-se os principais fatores associados à exposição (depressão pós-parto), ao desfecho (vínculo mãe-bebê) e a ambos. A estrutura do DAG seguiu critérios gráficos reconhecidos para identificação de confundidores, com base nas regras propostas por Pearl, Greenland e Shrier para definição do conjunto mínimo de ajuste, excluindo descendentes, mediadores e colisores para estimar o efeito causal entre a variável de exposição e desfecho.
Resultados
RESULTADOS
O DAG proposto identificou 18 covariáveis e 1 caminho causal entre depressão pós-parto e vínculo mãe-bebê. Destas covariáveis, quatorze foram definidas para compor o conjunto mínimo de ajuste: amamentação, apoio social, choro/sono do bebê, expectativas sobre o sexo do bebê, experiências negativas maternas/neonatais, gravidez não planejada, idade, paridade, condições socioeconômicas, sono da mãe, tipo de parto, transtornos mentais e violência. A ferramenta permitiu representar graficamente os caminhos causais, orientar o controle adequado de confundidores e ampliar a validade das inferências causais.
Conclusões/Considerações
Avaliar causalidade é importante na epidemiologia e objeto de estudo há séculos. O DAG identificou o pacote mínimo de variáveis a controlar. O uso único de métodos de análise múltipla na avaliação da relação causal entre depressão pós-parto e vínculo poderia levar ao controle inadequado de confundidores, ou seja, usar apenas recursos estatísticos pode gerar erros. O DAG foi útil na análise da relação e fortalecer futuras análises observacionais.
ESTRATÉGIAS DE CUIDADO NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA MÃES E FAMILIARES DE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DE ESTADO NO RIO DE JANEIRO
Comunicação Oral
1 UFRJ
Apresentação/Introdução
A violência de Estado, ao atingir jovens negros e periféricos, impacta diretamente a saúde mental de seus familiares. Este trabalho apresenta a proposta de uma pesquisa-ação em desenvolvimento, voltada à construção de metodologias de cuidado psicossocial junto de mães de vítimas da letalidade policial, a partir de seus territórios, saberes e resistências, entre o luto e a luta.
Objetivos
Sistematizar metodologias de cuidado junto às mães de vítimas de violência letal do Estado da favela do Jacarezinho, Rio de Janeiro, e contribuir para estratégias de cuidado na Atenção Psicossocial.
Metodologia
A pesquisa, em fase preparatória, adota a abordagem qualitativa e a pesquisa-ação como caminhos ético-metodológicos. A proposta é construída com base na interseccionalidade e nas práticas territoriais de cuidado. Estão sendo realizadas inserções em eventos no território de Manguinhos, favela vizinha do Jacarezinho e território das “Mães de Manguinhos”, movimento social parceiro da pesquisa, além de articulações com a RAPS e a Atenção Básica. Acontecem também discussões teóricas que embasam nossa proposta de realização de grupos terapêuticos no território, que terão início em 2025 e serão co-construídos com as participantes, reconhecendo suas experiências como produtoras de saber e cuidado.
Resultados
Ainda em fase preparatória, os resultados preliminares dizem respeito à escuta das demandas emergentes no território, à articulação com coletivos e instituições locais e à análise crítica das lacunas do cuidado ofertado à população atingida pela violência estatal. Os encontros e escutas iniciais têm revelado a presença de práticas comunitárias de cuidado e resistência que contrastam com a lógica medicalizante e punitivista da saúde mental. Observamos que as pessoas que apresentam um sofrimento relacionado às situações de violência de Estado não encontram lugar de cuidado na RAPS: não são considerados casos graves para um CAPS e tendem a ser apenas medicadas na Atenção Básica.
Conclusões/Considerações
A saúde mental deve reconhecer a centralidade da dor e da luta das mães de vítimas da violência de Estado como potência terapêutica e política. Nos orientamos à construção de uma proposta terapêutica fundamentada na Clínica da Delicadeza, enfatizando a escuta, o território como cenário de luta e cuidado, e as metodologias terapêuticas insurgentes.
GÊNERO, CUIDADO E POLÍTICAS PÚBLICAS: DIÁLOGOS ENTRE A ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E A POLÍTICA NACIONAL DE CUIDADOS A PARTIR DE UMA ETNOGRAFIA EM UM CAPS NO RIO DE JANEIRO
Comunicação Oral
1 UERJ
Apresentação/Introdução
Buscamos refletir sobre o processo de familiarização e feminização do cuidado no campo da Atenção Psicossocial, atual política de assistência à saúde mental do SUS, considerando o contexto de formulação da Política Nacional de Cuidados. Se baseia no trabalho etnográfico realizado no mestrado, com as cuidadoras familiares de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no município do Rio de Janeiro.
Objetivos
O trabalho pretende investigar a relação entre cuidado e mecanismos de regulação de gênero e que têm operado na política de saúde mental, e as possíveis ressonâncias com os debates acerca da política de cuidados em implementação no país.
Metodologia
A pesquisa empírica, de caráter etnográfico, foi realizada a partir da observação participante. Privilegiou os espaços coletivos do serviço, em especial a convivência, e as atividades coletivas que contavam com a participação das cuidadoras, como a assembleia e os grupos de acolhimento aos familiares. Para realização das análises, o trabalho privilegiou o diálogo entre diferentes noções de cuidado como categoria analítica e as abordagens êmicas do campo da Atenção Psicossocial. Além disso, as autoras analisaram os documentos oficiais referentes à Política Nacional de Cuidados, a saber, o texto da lei Nº 15.069 e seu Marco Conceitual, que apresentam as bases de sua elaboração e implementação.
Resultados
O trabalho de cuidado não remunerado, associado ao forte estigma vivenciado por pessoas que demandam cuidados em saúde mental, parece contribuir para a vulnerabilização de cuidadoras e usuários que dependem dos serviços da RAPS. Com a entrada do cuidado na agenda de governo, esperamos que as discussões tragam maior visibilidade para a pauta, contribuindo na proposição de políticas mais adequadas. No entanto, pelos materiais oficiais divulgados até o momento, não nos parece tão evidente o lugar do cuidado de pessoas em sofrimento psíquico grave ou agravos decorrentes do uso de álcool e outras drogas como objeto da política, ainda que se trate de uma população historicamente tutelada.
Conclusões/Considerações
Nos parece evidente que estamos diante de uma dupla invisibilização, que ganha relevo ao mapearmos estas zonas de silêncio na interseção entre duas políticas públicas, em parte pela marginalização de uma população que convive com as marcas do estigma e da exclusão social, mas substancialmente, como constatado pela pesquisa empírica, pela invisibilização da agenda do trabalho remunerado e não remunerado de cuidado no campo da Saúde Mental.